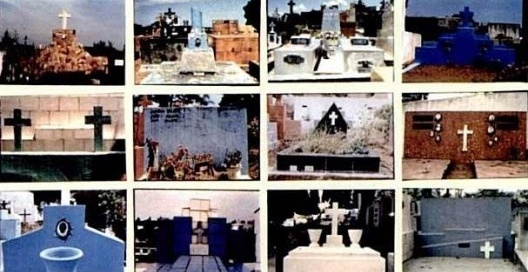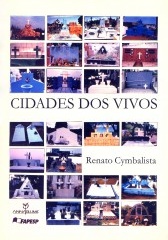Em Tubiacanga, cidade pacífica de três ou quatro mil habitantes, criada pelo escritor Lima Barreto (2), um estranho episódio ocorreu. Certo dia, um homem que atendia pelo nome de Raimundo Flanel, e que ninguém sabia de onde viera, resolveu mandar construir um forno, bem na sala de jantar. Não se conhecia ao certo a intenção do forasteiro, mas observavam os mais curiosos que o local andava cheio de balões de vidro, facas de corte e copos como os de farmácia. E o alarme se fez na cidade: alguns acreditavam que se tratasse de um fabricante de moeda falsa, outros que tudo aquilo tinha parte com o tinhoso. Mas o tempo caminhou ao lado do desconhecido, que foi “absorvido” pela cidade como se fosse um químico famoso, um sábio talvez.
A situação ficou dessa maneira serenada até que o senhor Bastos, o farmacêutico do lugar, viu entrar em seu recinto o misterioso sábio. Foi quando se deu um diálogo inesperado entre os dois e a descoberta surpreendente do invento de Raimundo Flanel. Na verdade, o cientista gabava-se de ter encontrado uma nova maneira de fazer ouro e para a apresentação do invento pedia a presença de duas personalidades eminentes, além do próprio farmacêutico. Depois de muito pensar, por três minutos, o senhor Bastos indicou o Coronel Bentes – homem sério, rico e discreto – e o Tenente Carvalhais; coletor da cidade e pessoa da maior confiança.
O encontro ocorreu no domingo seguinte, e alguns dias depois, misteriosamente, Flanel desaparecia sem deixar vestígios. E eis que a situação do calmo vilarejo começou a mudar repentinamente. Até então Tubiacanga não registrava casos de furtos ou de violência, o que fez o povo da cidade reagir aos novos eventos com grande surpresa: violavam-se sepulturas do “Sossego”, do seu cemitério, do seu campo santo. A princípio o coveiro julgou que fossem cães, mas revistando bem os muros só encontrou pequenos buracos. Fechou-os, mas tudo foi inútil: a cada dia novos jazigos eram arrombados e seus ossos saqueados.
O coveiro, cansado de investigar por sua conta, deu parte ao delegado e a notícia se espalhou rapidamente. Era hora da indignação tomar conta de tudo e de todos e o melhor é fazer de uma longa história, um relato breve. Preparou-se uma milícia a fim de descobrir a razão de tanto mistério e após três noites de vigília dois vampiros foram capturados e um só escapou. Pior ainda, para consternação geral, os bandidos presos eram nada mais nada menos, do que o Coletor Carvalhais e o rico fazendeiro Coronel Bentes que – quase morto – confessou que juntava ossos para fazer ouro e que o companheiro que fugira era o farmacêutico.
Cercado pela população o farmacêutico, acuado, prometeu repassar a fórmula em troca da própria vida. No entanto, tal confissão pedia cautela: era preciso paciência para que o farmacêutico copiasse todos os procedimentos necessários à obtenção do ouro. Nesse meio tempo, e enquanto a fórmula não vinha, começaram os saques ao cemitério local e às covas, assim como as brigas pelos agora preciosos ossos dos mortos. A confusão foi tal que o esperto farmacêutico teve tempo de fugir, sem ter passado a fórmula ou sombra de algo parecido. O final da história é esperado: a cidade ficou toda mobilizada na caça aos ossos, enquanto apenas duas personagens escapavam ilesas ao delírio local: um bêbado que ficou mais ocupado a ver estrelas e nosso farmacêutico – com seu segredo bem guardado –; a essas alturas, a quilômetros de distância de Tubiacanga.
Fim da história mas nem tanto. É claro que quem conta um conto aumenta um ponto e não é minha intenção interpretar e dar conta da história de Lima Barreto. Mais interessa tomá-la como pretexto para apresentar esse livro de Renato Cymbalista que de alguma maneira trata dos mortos; da arquitetura em homenagem aos mortos e das atitudes e projeções perante a própria morte. Renato não descobriu ouro ou qualquer fórmula mirabolante, mas chegou perto do tesouro; ou melhor, do mistério que encobre tal tesouro: a viagem de ir ao mundo dos mortos e de lá voltar.
Não estranhe o leitor. Não se trata de literatura espírita ou de qualquer tentativa de driblar os vivos para chegar ao além; o esforço aqui é outro. O fato é que o mundo dos mortos sempre deu muito o que pensar e levou a interpretações e perspectivas, por vezes opostas, mas presentes na mitologia da humanidade, que tratou de inscrever experiências universais, apenas pautadas pelo olhar particular.
Por isso mesmo, esse livro não começa na imaginária Tubiacanga; ao contrário, recupera uma certa história e territorialidade inscritas nos cemitérios do Estado de São Paulo, de meados para final do XIX, quando a chegada de novos hábitos nos costumes fúnebres levaram à mudanças aceleradas nos padrões vigentes. Mas Cidades dos vivos traz mais. Na feliz expressão de seu autor, elabora uma intrincada “lasanha de temporalidades”, quando fenômenos contextuais dialogam com estruturas da mais longa duração e que mostram, no limite, como a morte para além de ser um objeto historicamente construído, sempre fez parte de uma chave comum que mostra como os homens – e como quer o estruturalismo de Levi Strauss – sempre pensaram e (porque não) nomearam a morte de maneiras semelhantes.
A viagem é longa e permite pegar um bilhete que vai da diacronia à mais profunda sincronia. Nosso percurso começa no século XIX, quando nas várias “posturas” se consolida a vigência dos cemitérios municipais, como morada preferencial dos mortos. Dentro do movimento de higienização, que toma conta da recém conquistada urbanidade brasileira, nada mais restava senão separar a riqueza da pobreza, o centro da periferia e os mortos dos vivos. Fronteiras delimitadas, espaços estabelecidos.
O cemitério público surgia assim em nome da civilização – de uma certa civilização – e como garantia universal de que ao cidadão – vivo, mas também morto – agora cabia um local delimitado, nessa sociedade das marcas exteriores. Com efeito, com o processo de crescente de secularização os mortos saiam dos espaços privados, ou de debaixo das igrejas, para ganhar destinos próprios e conformações originais.
Nesse trajeto, chamam atenção os cemitérios da rica região do Oeste Paulista, que crescem na mesma medida em que o local “civilizava-se”, às custas do café que agora grassava em suas terras. E é exatamente nessa região que Renato Cymbalista procura por um diálogo entre cemitérios; ou melhor faz com que os “túmulos conversem entre si”, em mais uma inesperada paródia ao dito de Levi Strauss, que sempre afirmou que eram “os mitos que falavam entre si”.
Abandonando a perspectiva eminentemente diacrônica, e seu diálogo com um contexto político específico, o livro olha agora para as próprias formas arquitetônicas dos cemitérios, e em especial dos jazigos, encontrando processos complexos de negociação, releitura e reinterpretação.
Engana-se, porém, aquele que acha que a resposta é fácil. As vogas funerárias e os formatos dos túmulos não partiram só dos gostos, cada vez mais metropolitanos, das elites – em um processo fácil de imposição de uma cultura dominante –, assim como o contrário também não é verdadeiro: não se espere encontrar nesses locais produtos puros, onde um artesão “não conspurcado” inscreve sua arte. Na verdade, o que se vê e verá é de tudo um pouco; uma dança de símbolos, formatos, imagens e arranjos, ou até mesmo uma circulação de representações que perdem dono e propriedade. São altares, obeliscos, cruzes de todos os tipos, capelas, casas, flores cuja classificação, à la Jorge Luis Borges, só funciona na cabeça de quem a cria. O que é público e o que é privado ninguém mais se lembra de perguntar, assim como desaparecem modelos estabelecidos, registros eruditos ou mesmo vernaculares. No seu lugar resta uma espécie de toma-lá-dá-cá; jogo que a cultura estabelece toda vez que se pretende domesticá-la. É na circularidade entre o erudito e o popular que se percebe o alojamento de novas vogas e modas, como se no campo cultural, para além dos modelos dominantes da política, se instalasse uma nova realidade feita de contratos pouco previsíveis.
Mas nossa viagem não acaba por aqui. O percurso seguinte vai em direção à permanência, rumo a essa continua negociação entre vivos e mortos e para o diálogo que faz dos mortos uma projeção, também, dos próprios vivos. Nesse tempo longo, vão se enfumaçando locais e contextos específicos para adentrarmos, quase que atônitos, no espaço indistinto da morte. O que seriam esses tantos mortos que insistem em viver, ao menos na memória; ou essas tantas lembranças que ganham outras conotações e vestem novos credos? No país do catolicismo misto e dos ritos cruzados, os mortos ganham dialetos distintos e falam para além do que sua morte permite dizer. É na morte que recebem vida; é como mortos que são para sempre objeto da recordação.
Afinal, se não fosse assim, não entenderíamos porque, exatamente nesse espaço – na contradição infinda entre a vida e a morte – é que se encontra o motor de todos os mitos. Aqui estamos nós, na temporalidade quase mítica da longa duração.
Esse livro leva, portanto, a um roteiro sem destino previamente avisado. Diferente dos textos que terminam satisfazendo e alisando a inteligência alheia, e mostrando como a realidade aí está para ser explicada e desconstruída, Cidade dos vivos parece antes querer incomodar ou não pretende acabar. Ao invés do famoso “viveram felizes para sempre”, ou do glorioso ponto final, este texto convida a continuar. Continuar a percorrer essas temporalidades distintas, a adentrar os túmulos e jazigos alheios – a procura de si próprio – e a vislumbrar essas tantas mortes que vivemos a cada morte que nos diz respeito. A certa altura, não há mais como e porque explicar.
Mais do que um convite a descobrir novas formas arquitetônicas somos obrigados a – a partir delas e com elas – entrarmos em casa alheia e, ao mesmo tempo, própria. Afinal, quem não viveu o medo da morte por perto, quem não quis vasculhar um cemitério ou saber um pouco mais sobre os mistérios que encobrem os tantos mortos que não estão mais aqui para contar?
Explicações sempre existiram, interpretações não faltam. O que é novo é tomar o espaço arquitetônico dos cemitérios como texto e pretexto; como linguagem capaz de produzir discursos acerca da morte, ou melhor do medo da morte ou ainda das muitas formas que a recobriram. Do outro lado da moeda, estaria o milagre ou então o desejo do milagre que sempre uniu multidões. Morte e vida, construção e desconstrução, arquitetura como homenagem à morte... aí estão tantos nomes e modos de dizer de nosso inconformismo diante do desconhecido e de nosso desejo de domá-lo. Não à toa a morte sempre lembrou destruição, mas também passagem e até riqueza.
Nada como enfrentar a leitura e seus tantos mortos. Caso contrário, a saída seria tentar, a exemplo dos cidadãos de Tubiacanga, tirar ouro dos ossos dos mortos. Afinal, sempre se quis encontrar algo para além da morte: quem sabe uma nova riqueza, quem sabe um alento, ou uma nova porta de entrada. É a isso que o texto de Renato Cymbalista nos convida: um bom passeio.
nota1
Apresentação do livro.
2
Lima Barreto. A Nova Califórnia. São Paulo, Brasiliense, 1979.
sobre o autorLilia Moritz Schwarcz é professora livre-docente no departamento de antropologia da USP. É autora, entre outros, de As barbas do Imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos (Companhia das Letras, 1998, Prêmio Jabuti/ Livro do Ano).