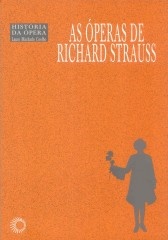Muita gente se surpreendeu ao saber que Strauss ainda estava vivo quando foi a Londres, em sua primeira viagem de avião, para um festival organizado por Sir Thomas Beecham. Foi em 1947 e, consultado sobre planos para o futuro, só pôde responder: “Bem...morrer”.
Nascido em 1864, contemporâneo de Rossini e Berlioz, assistiu à estréia de Parsifal em Bayreuth e morreu em 1949, ano da Sinfonia Turangalila e dos Quatro Estudos de Ritmo de Messiaen e dos primeiros vagidos da Musique Concrète de Pierre Schaeffer. A “música do futuro”, nos anos europeus do 2º Pós-Guerra, era decididamente serial. Até Stravinsky se converteria logo mais, e à sua moda, à estética de Schoenberg e Webern e não parecia haver esperança alguma para o legado de Richard Strauss. Reconhecia-se a importância das obras sinfônicas de juventude (Don Juan, Till Eulenspiegel, Zaratustra) e das primeiras óperas (Salomé e O Cavaleiro da Rosa, sobretudo) mas condenava-se a incapacidade de renovação, o retrocesso, o oportunismo, a impotência criativa do compositor bávaro, várias vezes atropelado pela História.
Nada como a perspectiva do tempo, no entanto, para a reavaliação do legado criativo de uma Era e disso dá conta o bem-vindo 11º volume da espantosa História da Ópera de Lauro Machado Coelho, da Editora Perspectiva (1).
As óperas de Richard Strauss, primeiro de 5 volumes que, ao lado daqueles já lançados e dedicados às óperas Francesa, Italiana (Barroca, Clássica, Romântica, Pós-1870), Alemã, Russa, Checa, Norte-Americana e Inglesa, abordarão as obras individuais de Mozart, Wagner, Verdi e Puccini, dá a Strauss a merecida posição de principal criador lírico dos tempos modernos. Além do músico genial, criador de idioma instrumental próprio e inconfundível, há o compositor que dá à voz, especialmente à feminina, tratamento único e sempre com o mais perfeito senso dramático. É só ver/ouvir personagens como a Marechala, do Cavaleiro da Rosa, o par Ariadne-Zerbinetta, ou a Condessa, de Capriccio.
Com a clareza e erudição a que nos vem acostumando, mas também com o amor de quem freqüenta há anos essa obra multifacetada, LMC nos dá um rico panorama do homem e sua hora. Cada um dos 15 títulos, de Guntram e Feuersnot, obras de aprendiz, à derradeira, Capriccio, é tratado em capítulo especial em que passamos a conhecer a circunstância, a trama, a fortuna crítica e o catálogo de gravações disponíveis. Lauro desfaz logo de cara as acusações mais comuns, aquelas da incapacidade de renovação do compositor e retrocesso depois da explosão criativa de Salomé e Elektra, e nos propõe, ao contrário, o músico em permanente metamorfose, que cria para cada obra a linguagem de que necessita, sem em momento algum perder o controle da unidade de sua produção artística. É esse ecletismo, aliás, ao qual não é estranha boa parte da criação contemporânea (Mahler, Stravinsky, Chostakovich, o próprio Schoenberg), que faz com que as óperas de RS estejam atualmente entre mais representadas em teatros de todo o mundo e até mesmo nesta remota São Paulo pudemos assistir a Salomé, nos bons tempos de Ira Levin no Municipal, e a Elektra na programação exemplar da OSESP de John Neschling.
Capítulos especiais abordam a frutífera associação Strauss-Hofmannsthal, maravilhosa união de músico e libretista que supera o dilema prima la Musica poi le Parole, como só podemos encontrar na Incoronazione di Poppea de Monteverdi-Busenello e nas raras associações Mozart-da Ponte, Verdi-Boïto, Stravinsky-Auden. Começada com Elektra, a produção dessa dupla nos deu ainda o milagre de O Cavaleiro da Rosa (última vez em SP em 1959, uma vergonha!), Ariadne em Naxos, A Mulher sem Sombra, Helena Egípcia e Arabella, quando a morte impediu a conclusão do texto de Hofmannsthal.
A busca de um substituto levou o compositor à parceria com Stefan Zweig em A Mulher Silenciosa, já nos tempos sombrios do 3º Reich, cujos comissários, por ocasião da estréia, tentaram impedir a divulgação do nome do escritor judeu, no que foram impedidos pelo compositor. A ópera foi logo retirada de cartaz e Strauss precisou dar início a nova associação músico-escritor, agora com Josef Gregor, nome aliás sugerido por Zweig, e com quem o compositor nunca ficou satisfeito. Strauss nunca pensou em deixar a Alemanha durante os anos do Nazismo. Era, além de compositor importante, grande regente e chegou a ocupar cargo de comando na política musical do País. Nunca teve, no entanto, o comportamento oportunista de Pfitzner, Orff, para não falar de regentes como Böhm, Furtwängler ou o iniciante Karajan, que realmente bajularam as novas autoridades, mas ficou por muito tempo associado ao regime, que soube muito bem utilizá-lo para propaganda.
É verdade que para isso os nazistas puderam manter sobre sua cabeça a ameaça sempre presente de perseguição à adorada nora judia, Alice Grab-Strauss, mãe de seus netos judeus, que perdeu boa parte da família nos campos de extermínio. Alice era também sua secretária – “nós dois somos os únicos que trabalham nesta casa”, brincava ele. Parece realmente ter havido, por parte do compositor, alguma covardia e, quem sabe, a esperança de que aqueles anos sombrios pudessem logo ser superados e esquecidos. O capítulo muito bem documentado do livro de LMC põe a discussão em novo patamar. É de Strauss, de qualquer forma, às vésperas de 1939, a ópera pacifista Friedenstag, O Dia da Paz, e o mais comovente lamento musical daquela época, verdadeiros threni da destruição física e moral da querida Alemanha, as Metamorfoses para 23 Cordas Solistas, de 1945.
Outros temas abordados no livro são, ainda, a carreira brilhante do grande regente e seu curioso casamento. A direção de orquestra o trouxe, inclusive, 2 vezes ao Rio de Janeiro com a Filarmônica de Viena. O programa de 1920 no Municipal carioca tinha Beethoven, Strauss (Don Juan, Dança de Salomé, Morte e Transfiguração), mas também a Abertura O Garatuja de Alberto Nepomuceno.
Strauss casou-se com Pauline de Ahna, cantora talentosa e de temperamento irascível, solista em uma de suas primeiras produções. Megera temida por todos os que freqüentavam o casal, foi sempre a musa inspiradora do artista que, preguiçoso burguês que reconhecia ser, nunca negou que precisava daquela consciência instigante a açulá-lo ou não seria capaz de produzir absolutamente nada. Lauro ressalta a freqüência com que o tema do casamento, como a forma mais perfeita de união, comparece no assunto de suas óperas (A Mulher sem Sombra, Helena Egípcia, Arabella, Intermezzo...). Seu matrimônio está explicitamente presente em partituras como a Sinfonia Doméstica, a Vida de Herói em que, cabotiníssimo, faz a própria biografia do herói que é ele, descreve a companheira do herói, Pauline, e as obras de paz do herói (suas composições, é claro) e em Intermezzo, essa estranha ópera em que Hofmannsthal não quis colaborar, construída sobre um mal-entendido que quase destruiu o casamento Pauline-Richard e na qual a figura da mulher não sai assim tão bem, ao contrário da do compositor-personagem. Pauline, é claro, detestou, mas também não podia viver sem seu Richard.
[texto originalmente publicado no jornal O Estado de São Paulo, Caderno 2, Domingo, 30 dezembro de 2007.]
notas1
Volumes já publicados: A ópera barroca italiana; A ópera clássica italiana; A ópera romântica italiana; A ópera italiana após 1870; A ópera na França; A ópera alemã; A ópera na Rússia; A ópera tcheca; A ópera nos Estados Unidos; e A ópera inglesa.
sobre o autorAffonso Risi Jr. é arquiteto e pesquisador musical.