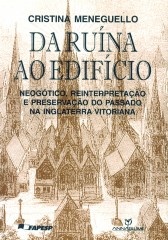Há muito o que celebrar com este livro publicado recentemente por Cristina Meneguello, fruto de sua tese de doutoramento. A autora debruça-se sobre um tema pouco tratado em nosso meio: as manifestações artísticas do século XIX, centrando-se em facetas das manifestações medievalistas na Inglaterra. Elabora uma revisão crítica da historiografia sobre o tema, em especial a inglesa, esmiúça fontes documentais do mais alto interesse, explora de maneira exaustiva artigos de periódicos da época e tece uma série de considerações que nos auxiliam a ter uma visão mais abrangente da real complexidade da produção daquele período, inclusive no que respeita à preservação do patrimônio cultural.
O século XIX foi um século pleno de contradições, privilégio que não pertence apenas àquela época; as contradições dos oitocentos, porém, foram com freqüência mal compreendidas, encaradas como “defeitos” ou “desvios” e, raramente, como um processo variado e fértil. A autora explora de maneira exemplar esse período fecundo em idéias conflitantes, com inúmeros resultados de interesse, apesar da enorme disparidade das manifestações. Para abordar esse complexo universo, Meneguello fez um recorte claro nas intenções e preciso na abordagem e na estruturação. Trata da temática em três capítulos bastante densos. No primeiro, a cidade de Manchester é eleita como personagem privilegiada na narrativa: extrapolando seu papel de paradigma dos problemas das cidades industriais do século XIX, trata de sua apreensão através de variados olhares, escolhendo o Town Hall como exemplo do maior interesse: “A cidade Manchester surge aqui como o local onde as forças da busca pelo passado e da invenção da própria história atuam. Trata-se de um convite a um olhar descongestionado: do conhecido paradigma da cidade industrial, salta a cidade medievalizada” (p. 20). No segundo capítulo, a autora volta-se ao neogótico, explorando sua apreensão e as variadas formas do medievalismo no período, as forças díspares que moviam a discussão, a fortuna crítica dessas manifestações, tanto através das querelas da época (a “batalha dos estilos”) quanto de seu acolhimento pela historiografia através do tempo. O terceiro capítulo é dedicado às questões ligadas ao patrimônio arquitetônico e urbano, e às forças em ação na tentativa de preservar as marcas do passado: “a maneira como tais forças velozes moveram-se rumo ao passado a ser encontrado no futuro, de um lado determinado o nascimento da questão do patrimônio urbano e edificado e da necessidade latente de preservar os traços da cidade que desaparecem ou são irremediavelmente alterados; de outro, buscando a comunidade utópica, solução para os males da cidade industrial” (p. 20). Em todos os capítulos são evidenciadas as várias formas de relação com o passado, e o modo como isso é apreendido (e construído) pela própria escrita da história.
A narrativa é iniciada a partir de um caso particular, a sede da prefeitura de Manchester − o Town Hall −, para levantar uma série de questões e conflitos latentes relacionados à obra, que darão bases para depois alargar seu olhar sobre a cidade. O edifício, de 1875, um enorme complexo neogótico de oito mil metros quadrados, foi projetado pelo arquiteto Alfred Waterhouse, tornando-se, já naquela época, exemplo de grande importância. A autora explora de variados modos o edifício, as vicissitudes do concurso que a ele deu origem e outras polêmicas relacionadas, como o uso de linguagem medievalizante e sua pertinência, ou não, ao presente e a escolha dos temas para os murais de ornamentação do interior, em que um tópico ausente (algo já ressentido por algumas vozes do período) é a própria época e a industrialização. O intuito é explorar as várias interpretações do passado relacionadas a essas disputas, em especial “a posse de um passado real (entendido como provado pela história) e do passado imaginado (na busca de dar a Manchester um pertencimento à história oficial)” (p. 38), evidenciando os processos de construção, e, mesmo, de “invenção” do passado, de modo a legitimar o presente.
Partindo desses olhares diversificados sobre o edifício, a autora expande o discurso para as diversas miradas sobre a cidade (e como o edifício com ela se relacionava), em especial a social, que explora a Manchester paradigma da cidade da Revolução Industrial. Inicia pelos contemporâneos, e o papel fundador desempenhado por Engels ao tratar das mazelas da industrialização e das condições de trabalho, dando via à crítica da cidade industrial e do espaço urbano, e suas relações com a realidade social. Partindo da crítica social, emergem vários temas como a contraposição entre Manchester e Londres, a complementaridade, ou oposição, entre cidade e natureza, e a apreensão da cidade pelos literatos, romancistas, urbanistas, viajantes etc.
Manchester é apresentada como um paradigma não apenas da cidade industrial, mas também do modo de narrar a si mesma, a partir das tentativas de construção de um passado por meio de diversos discursos – de historiadores, antiquários, memorialistas, “arqueólogos de fim-de-semana” –, muitos deles buscando superar certo sentimento de inferioridade de uma cidade que fora esquecida pelos textos oficiais até o século XVI. As gamas eram variadas: desde as que apelam para a recriação de um passado mítico, centrado nas raízes romanas da cidade e que se opunham à imagem da Manchester industrial, até aquelas que buscavam a redenção pela celebração da própria industrialização. Vários desses aspectos emergem na Exposição do Jubileu Real em Manchester, de 1887, em que os cinqüenta anos de reinado de Vitória é o mote para celebrar a arte e a indústria da cidade, não sem ironias, pois a autora mostra que a proposta, que incluía uma reconstrução, na verdade uma reinvenção poética, da antiga Manchester, “buscava criar um cenário convincente, mas para um passado imaginado” (p. 79). Meneguello devota também especial interesse às ruínas – que aparecem de variados modos em todo o seu texto: como modo de conhecer o passado, de relembrar a finitude da própria vida a, até mesmo, como exercício de imaginar as construções do presente em ruínas, procurando prever as mensagens que seriam deixadas ao futuro –, tecendo relações entre passado, memória e identidade.
O segundo capítulo volta-se a tema de grande complexidade: as interpretações dadas à revivescência de expressões medievais, que foram múltiplas e muito debatidas, analisando desde proposições do próprio século XIX até interpretações de uma historiografia mais recente. A autora discorre sobre as tentativas de caracterizar essas expressões ora como revivalismo (gothic revival), ora como reinterpretação de linguagem que permaneceu presente ao longo dos séculos (survival e não revival), ou, ainda, como postura conciliatória (tradição gótica continuada) entre todas elas. Mais do que arrolar e analisar os elementos formais que caracterizam esses movimentos, Meneguello propõe-se a enfrentar essa difícil questão apontando os modos como foram entendidos pelos contemporâneos e depois tratados pela historiografia ao longo do tempo. Evidencia o fato de essas manifestações – que deram origem a ardorosos debates e a muitas obras – que estiveram no centro de muitas discussões nos oitocentos, serem depois desconsideradas, principalmente por uma historiografia calcada nos princípios do modernismo, que via as manifestações baseadas em reinterpretações de historicismo como movimentos (e momentos) empobrecidos, que produziram edifícios sem valor. Só mais recentemente passaram a receber uma abordagem cultural mais ampla, que perscruta as implicações políticas e estéticas, redimensionando historicamente o neogótico como algo muito mais complexo do que mero efeito do romantismo (pp. 96-113).
Ao examinar a historiografia relacionada a essa temática, a autora aborda também uma série de outras questões como as diferenças entre “revival” e “historicismo”, manifestações goticizantes do século XVIII e o neogótico do XIX, ligações entre medievalismo, revivalismo gótico, religião, a literatura e as artes em geral – com especial interesse pela arquitetura a pintura dos pré-rafaelitas –, e um renascer da “ciência histórica” no próprio período. Assim, oferece várias visões das ligações com o passado medieval e “torna-se evidente que não existe uma causa única para a relação estabelecida com o passado medieval; por vezes, a adoção de seus temas e motivos coexistia com um discurso contrário aos vestígios do feudalismo; para muitos arquitetos, encapsular edifícios dentro de um esquema medieval mascarava obras que, de fato, eram o resultado da produção em massa e da tecnologia moderna” (p. 130).
Os temas que se seguem e os argumentos que levanta através de fontes primárias, explorando de maneira exemplar uma fonte até agora pouco aproveitada – os textos da revista The Builder – são do mais alto interesse. A começar pela chamada “batalha dos estilos” contrapondo partidários do classicismo, na Inglaterra especialmente o de raiz grega, e o gótico. Batalha que partindo de mera oposição, desdobra-se depois num debate mais ponderado – em que se evidenciam os méritos de uma ou outra forma de expressão para buscar uma medida para seu o uso – e num questionamento sobre a incapacidade de se criar algo novo e, ainda, numa crítica à inexistência de um estilo que fosse próprio à época; busca de linguagem própria que foi um verdadeiro tormento para muitos arquitetos do período. Ao examinar esses debates, os motivos e argumentos que os moviam – analisando de modo mais aprofundado os “revivals” –, a autora distancia-se das abordagens que viam essas manifestações como imitativas e sem originalidade, oferecendo subsídios importantes para a apreensão das complexidades do período. O item que segue aborda outro tema fundamental: a valorização do passado medieval através do ornamento, da variedade – associada à apreciação do trabalho do homem, do artífice – dando voz a três eminentes autores: Augustus W. N. Pugin, John Ruskin e William Morris. A releitura do mediavalismo – de seus valores e de sua expressividade formal – é tratada como elemento-chave para compreender a imaginação da época (p. 169) e para mostrar a importância crescente dada às próprias construções medievais, em especial as ruínas, e as relações desse processo com o surgimento da noção moderna de preservação, tema explorado no terceiro e último capítulo.
Em contraposição à cidade de Manchester percebida como caótica e portadora das mazelas do processo de industrialização do primeiro capítulo, a autora inicia o terceiro capítulo tratando das utopias no campo literário, no pensamento político e social e sua repercussão na concepção de comunidades ideais e de propostas higienistas do século XIX. Aborda sucessivamente as “cidades de industriais” (ou “cidades de companhia”, as industrial villages), a sua contrapartida anti-industrial – as fazendas cartistas – e, a seguir, as cidades-jardim, já no século XX. Explora nesses exemplos os renovados modos de distribuição espacial, de relação com o território, as novas formas de sociabilidade e os aspectos que denunciam uma leitura crítica àquele presente feitas no próprio período. O texto é construído de modo a concatenar as relações entre neogótico, medievalismo, ruína, comunidades ideais para depois atrelar a essa discussão a preservação do patrimônio. De início, a autora critica a visão redutora de grande parte da historiografia, que examina as questões de preservação no período de maneira simplificadora e dual, acentuando a contraposição entre Viollet-le-Duc e Ruskin, entre a teoria intervencionista e a antiintervencionista, entre o racional e o emocional, entre França e Inglaterra, entre o modelo estatal de proteção dos monumentos francês e o modelo inglês calcado na sociedade civil organizada. Meneguello, matiza vários temas: as variadíssimas tendências existentes em ambos os ambientes culturais; o papel do Estado na Preservação na Inglaterra (discorre sobre a consolidação do sistema legal de proteção na Inglaterra no final do capítulo); a ação dos próprios protagonistas. Explora não apenas os pontos que diferenciam Ruskin e Viollet-le-Duc, ou os pontos de aproximação já consolidados pela historiografia (contemporaneidade, apreciadores da natureza, envolvimento com o debate arquitetônico, conhecimento da arquitetura), mas ressalta outros laços que os assemelham, construindo o discurso através das formas de apreciação do gótico por ambos, além de explorar suas respectivas complexidades e contradições.
Outro ponto sobre o qual insiste, e sobre o qual se deve insistir, é contradizer a visão simplista de considerar Ruskin e Morris como fatalistas, avessos a qualquer intervenção: ao contrário, preconizavam manutenção constante para prolongar, o quanto possível, a vida das obras. Contrapunham-se, porém, às restaurações como praticadas no período, que descaracterizavam os edifícios ao extremo. Para termos uma idéia da dimensão do problema, invocamos aqui os dados apresentados por Stephan Tschudi-Madsen (Restoration and Anti-restoration, 1976, p. 25) que informa que entre 1840 e 1873 foram restauradas 7144 igrejas na Inglaterra, algo que correspondia a cerca de metade das igrejas medievais do país. Com efeito, o revival gótico despertou o interesse pela arquitetura medieval; as tentativas de levar seus exemplares a um “novo esplendor”, como se aventava na época, acabou por engendrar a deturpação de muitos deles, através das obras de arquitetos como James Wyatt ou George Gilber Scott, que foram alvo da contraposição de autores como Pugin, Ruskin e Morris e depois da atuação de sociedades de preservação, como a Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB), formada em 1877 com a condução de Morris e o National Trust. A autora conclui o capítulo apresentando outro tema essencial: o problema das “desrestaurações” executadas no último quartel do século XX que, ao suprimir restauros do século XIX, acabaram por destruir elementos importantíssimos para a compreensão do pensar e fazer arquitetura daquele período. Ironicamente, essas ações perpetradas no final do século passado, muito se assemelham às intervenções feitas no século XIX na busca da unidade de estilo (e de formas idealizadas), tão veementemente criticadas pelos principais interlocutores de Meneguello naquele século e por numerosos autores ao longo de todo o século XX, dando origem ao pensamento contemporâneo sobre a restauração, que, em teoria, preconiza o respeito por todas as estratificações da obra (inclusive os restauros feitos no passado); na prática, a dificuldade em fazer isso é enorme.
Além das numerosas temáticas que surgem no texto, o livro coloca-se como crítica e contrapartida à historiografia que se consolidou no século XX que, ao lançar seu olhar sobre o século precedente, não conseguiu ler as experiências de reinterpretação do passado como buscas qualificadas; ao contrário, essas revivescências foram tidas como desvios de conduta. Aquilo que em larga medida ocorreu e que muitas vezes ainda ocorre é buscar, no século XIX, apenas os elementos de matriz racionalista que prenunciam correntes modernistas do século XX, sem explorar as manifestações daquele século no contexto em que foram produzidas e em toda a sua complexidade. O livro de Meneguello lança renovadas luzes sobre o problema ao abraçar as contradições da época e evidenciar o papel dessas variadas manifestações naquilo que significaram para o período, os múltiplos modos como o passado foi interpretado na construção daquele presente, as variadas crises e críticas, as grandes utopias, os elementos propositivos e de animação de um vivo debate cultural, que afloram por todo o livro e que, se devidamente perscrutados, oferecem muitas lições para os dias de hoje.
sobre o autor
Beatriz Mugayar Kühl é arquiteta formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (1988), com especialização e mestrado em preservação de bens culturais pela Katholieke Universiteit Leuven (1989-1992), Bélgica, doutorado pela FAUUSP (1996) e pós-doutorado pela Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (2001-2005). É professora do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto da FAUUSP