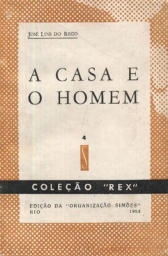Expoente da literatura regionalista, o escritor paraibano José Lins do Rego (1901-57) é muito lembrado por seus romances, sobretudo por aqueles que integram o chamado Ciclo da Cana-de-Açúcar, no qual há uma obra prima inquestionável que é Fogo Morto (1943). Porém parte importante de sua obra – e parte muito menos conhecida – é aquela que reúne textos escritos para a imprensa, discursos, ensaios, e que não foram publicados pela José Olympio – editora oficial do autor – e nem incluídos nas Obras Completas. É o caso de A casa e o homem, obra publicada pela editora da Organização Simões, do Rio, em 1954.
O primeiro texto da coletânea é o pequeno ensaio que lhe dá o nome e que saíra antes, em agosto de 1952, com o nome “L’homme et le paysage”, na prestigiosa revista L’Architecture d’aujourd’hui. Foi o texto publicado nesta revista – traduzido ao português por Ana Teresa Jardim Reynaud – que apareceu, em 1987 (ano do centenário de nascimento de Le Corbusier), na obra coletiva organizada por Alberto Xavier chamada Arquitetura moderna brasileira: depoimento de uma geração, que é um balanço do pensamento crítico a respeito de parte da arquitetura brasileira. Haverá algumas diferenças significativas entre a tradução e o original do autor, que parece desnecessário destacar.
Lins do Rego faz, nele, uma leitura disciplinada daquilo que, de modo derramado, Gilberto Freyre (1900-87) projetara em vários livros que publicou desde os anos 1930. Neste como em outros temas, Freyre aponta uma ideia original mas não a desenvolve ou aprofunda. A relação da casa com seu entorno foi tratada por ele, de passagem, desde o clássico Casa-Grande & Senzala, de 1933, até o Oh de casa!, de 1979, passando por Sobrados e Mucambos, de 1936, dentre outros. Lins do Rego e Freyre foram contemporâneos e amigos – “amigos mais do que fraternos” – desde o ano de 1923. Mas não só. O polímata Freyre influenciou profundamente o romancista, o que se refletiu em sua obra, em especial no texto que se vai ler.
Lins do Rego reconheceu publicamente a influência decisiva de Freyre e este, de seu lado, confessa que houve uma “empatia recíproca” entre eles, de modo que “sentindo-se assim influente sobre o amigo, tão confiante, da mesma idade, passei a notar que os nossos dois eus por vezes se cruzavam e se confundiam” (“José Lins do Rego e eu: qual dos dois influiu sobre o outro?” em Alhos e Bugalhos, 1978). É importante destacar isto porque o ensaio seguinte tem notórias marcas de Freyre que se preocupou largamente da casa brasileira e da arquitetura ecológica em muitos escritos de sua vasta obra, hoje bastante esquecida.

Fazenda Pau D´Alho, Serra da Bocaina, São José do Barreiro SP, 1817
Foto Nelson Kon
Vê-se, pois, claros ecos das ideias de Freyre – em grandes obras de pouco método – tais como a do sobrado patriarcal, fechado sobre si mesmo, inimigo da rua, ao contrário da casa-grande e do próprio mucambo, habitação vegetal “mais adequada ao meio tropical”. E, em São Paulo, o prestígio social das chácaras, no século 19: “eram casas de um pavimento só, caiadas de branco, rodeadas de jabuticabeiras, limoeiros, laranjais” (Sobrados e Mucambos, Cap. 5). Já em Oh de casa! (Em torno da casa brasileira e de sua projeção sobre um tipo nacional de homem), ele vai destacar, como sempre de passagem, o conceito, que introduz, de “supercasa”, ou seja, “o espaço imediato em torno à residência e que, de imediato, se prolonga em espaços mais abrangentes e que deixa de ser privado para ser público, solidário, comunitário”. Pode-se lembrar também da ideia apenas esboçada do “rurbano”.
Apesar da evidente influência, o texto é notável pela defesa da integração da casa com a natureza tropical e com a paisagem onde se levanta – aquilo que a lei francesa chamará, em 1977, de inserção harmônica da criação arquitetônica com o meio, o que é de interesse público – como também para demonstrar o grau de relevância que a arquitetura ganhou no Brasil durante os anos 1930-50, tornando, talvez precocemente, Niemeyer (antes do Ibirapuera, do Copan, de Brasília), Lucio Costa, Burle Marx, Henrique Mindlin, nomes comparáveis a Villa-Lobos, nascido bem antes, em 1887 (mesmo ano em que nascera Le Corbusier, mestre que tinha feito “discípulos no país do sol”). Numa imagem que seria cara a Freyre, Lins conclui afirmando que para viver bem o homem “não pode ser conduzido contra a paisagem. Ele não deve ser nunca um assassino de paisagens”.

José Lins do Rego à direita e Gilberto Freyre, o segundo à esquerda, anos 1950
Foto divulgação
A casa e o homem
José Lins do Rego(1)
No começo a casa foi construída contra a floresta e assim o homem refugiava-se mais do que morava. Daí tudo ser como se fosse obra do medo. Fugia-se das árvores e dos bichos, derrubava-se a mataria em derredor, evitavam-se os rios, opunha-se o homem à natureza com o pau-a-pique das primeiras choças. Depois, com a pedra e cal das obras de duração. A árvore era o inimigo mais próximo a aniquilar. Dela podia sair a morte. Um tapuia espreitava lá de cima o homem desprevenido para a flechada mortífera. Das ramagens, insetos partiriam em enxames, de casas de marimbondos, e pássaros de rapina armariam bicadas contra as criações domésticas. E as águas dos rios cresceriam em enchentes devastadoras. Era preciso fugir do rio como se fugia dos índios traiçoeiros. De súbito, o homem acordaria com a sua casa afundada nas águas barrentas das cheias que desciam em avalanche. E como não se podia destruir o rio como se destruíra a floresta, fugia-se para os altos. Batiam casas nos cocurutos das serras, nas lombadas dos morros. Os mestres de obras procuravam as alturas para ficar a cavaleiro dos inimigos inclementes. Quando não era o índio que irrompia das brenhas, eram navios corsários com as suas bocas de fogo devastadoras. E para tanto a casa carecia de horizontes limpos para que se pudesse olhar tudo. Barras a descoberto e fendas de capoeiras batidas. Nada de árvores que tapassem a vista. A tal ‘casa branca da serra’ tinha que ser mais uma fortaleza de paredes largas, de vigias abertas às surpresas da terra e dos homens, como olhos escancarados. Assim teríamos que viver contra a paisagem, a paisagem nos aterrava.
A casa brasileira a princípio não foi uma mansão, mas espécie de trincheira batida com pedras e óleo de baleia. Os padres jesuítas construíram as suas reduções em quadrados de formação militar. As nossas primeiras aldeias eram como moradas de castores, casas grudadas umas às outras, em paredes-meias, tudo feito para a hora do perigo. Os portugueses que vieram das quintas patriarcais da ‘terrinha’, com as suas castanheiras, com as doces sombras de suas árvores, teriam que ser nos trópicos uns derrubadores impenitentes, homens de machado em punho, de fachos nas mãos para as queimadas. Tratariam a natureza a ferro e fogo para poderem fincar o pé na terra nova. Só lhes serviam as árvores que eles plantassem, as que lhes dessem os frutos, as que fossem de sua serventia imediata. Árvores domésticas como os bichos, árvores para serem coradouros de roupas, galinheiro, cercas humildes, à altura do braço. Quando precisavam de madeira de lei, sabia aventurar-se à mata virgem e arrancar de lá os paus linheiros, madeirame com que cobrissem as casas, forrassem as salas, levantassem púlpitos, construíssem os seus barcos. Nada de carinho com a terra. Nada de amolecer o coração duro para o selvagem que irromperia da floresta para matar. E quando a floresta foi dominada ficaria no homem que a vencera um certo sentimento de hostilidade atávica. Os avós dormiram com o pavor das incursões tapuias, o pavor das onças, das cobras, de todos os rumores das noites tropicais. E quando o homem, senhor de tudo, pôde viver como gente, após séculos de lutas cruentas, a casa que escolheria para morada não seria íntima da paisagem. As casas-grandes dos engenhos e das fazendas e os sobradões da cidade não procuraram nunca uma intimidade fraterna com o mundo em derredor.
Os mestres de obras, os urbanistas, os arquitetos que vieram após os séculos da conquista fizeram esforço para vencer as deficiências herdadas. Abrandaram o coração, foram mais líricos do que funcionais. Aqueles que nos pareceram tão funcionais nas casas construídas para a defesa do homem contra o meio agressivo, não souberam atingir as nascentes poéticas da terra virgem. Alguns chegaram às grandezas delirantes das igrejas barrocas, aos conventos maciços, como os da Metrópole. E puderam aliar-se um pouco à paisagem. Nos claustros dos franciscanos, pássaros podiam fazer ninhos em galhadas que davam sombra. E fontes, como nos pátios árabes, davam água para beber. Os irmãos de Francisco de Assis tinham trazido da Úmbria e da Toscana mais doçura, nas relações íntimas entre o homem e a natureza. O barroco nos trópicos arrancou dos padres franciscanos mais ternura de seus corações, que não eram de pedra. Os arquitetos dos conventos e igrejas de São Francisco não trabalhavam para isolar as criaturas de Deus, das coisas de Deus. As fontes, os pomares, as imagens da terra transferida às pedras, às portadas, faziam esforço para humanizar os contatos entre gente viva e a natureza.
As lições dos franciscanos não se difundiram, como deviam, entre os nossos mestres de obras coloniais. O horror à paisagem continuou a predominar em suas casas, nos seus sobrados, nas suas igrejas. E quando D. João VI fundou o nosso Jardim Botânico, trouxe das Antilhas uma espécie vegetal que seria como a marca de fábrica de uma nova era. A palmeira que se chamaria imperial, solene e sobranceira, se propagaria pelos quatro cantos do país. Era assim a paisagem que o homem impunha, à sua maneira. Nada de paus d’arco, de arneira, de jacarandás. Os mestres paisagistas que a corte de Lisboa trouxera ao Brasil plantavam nas praças públicas, nas entradas de fazenda, nas proximidades dos edifícios, aleias de palmeiras, querendo assim dominar pela disciplina marcial as nossas exuberâncias tropicais. Mas já era uma natureza. As cidades brasileiras faziam praças, campos, jardins, os quintais se enchiam de variedades vegetais novas, as cerâmicas do Porto espalhavam deusas por cima dos portões e escadarias. As fontes públicas derramavam água doce atrás de bocas de faunos e de pernas abertas de ninfas. Já podiam os pássaros cantar nos arvoredos de bosques plantados pela mão dos homens. As casas brasileiras das fazendas e engenhos cercavam-se de árvores exóticas importadas. O parque da Fazenda Secretário, em Vassouras, parece uma mata indiana. Há árvores chegadas da África, da Ásia, da Austrália. Tem-se a impressão de que as nossas árvores não valiam nada para os urbanistas e jardineiros. Ou seria ainda medo da floresta virgem, o pavor dos conquistadores? O nosso II Reinado se requintou em jardins, mas quase sempre pôs de lado o que era realmente original na nossa paisagem. Depois de ter vencido a mata bravia, o homem queria impor outra mata, como se escolhesse escravos para a sua serventia e deleite. Procurava-se uma solução de cima para baixo, quando a solução racional devia ser a da terra dominada, uma solução das raízes.
É quando surge a nossa escola de arquitetura brasileira. Le Corbusier tinha feito discípulos no país do sol. A invenção da sua sabedoria provinha de um movimento de libertação do homem. O mestre francês viu o homem dentro da casa e queria ligar esta casa ao universo. A casa para ele não era um isolamento, um refúgio contra a natureza, tal qual um lazareto. Ao contrário, ele pretendia uma solução mais ecológica para a arquitetura. E, sendo assim, mais humana, mais prática, mais profunda. Le Corbusier não é só um arquiteto; é quase um moralista, um filósofo. A sua concepção não se apresenta como uma utopia em concreto armado, em alumínio, em material de construção, mas tem a substância de uma concepção das mais realistas de nosso tempo. Tomando este mestre para ponto de partida, a nossa nova escola de arquitetura chegou a uma realidade vigorosa. Como na música de Villa-Lobos, a força de um Lucio Costa, de um Niemeyer, de um Mindlin, proveio da nossa vida e de nossas próprias entranhas. A volta à natureza, o valor que se dá à paisagem como elemento substancial, salvou alguns de nossos artistas daquilo que se poderia chamar de formal em Le Corbusier. O grande mestre francês, depois de ter avançado poderosamente no sentido da libertação dos processos de composição, se deixaria seduzir pelo que há de exterior nas suas invenções, assim como um poeta de força extraordinária que se encontrasse com o que há de estéril na métrica. No Brasil, o instinto poético nos conduziria a uma intimidade mais lírica com a casa.
O arquiteto novo foi atrás do que havia de vivo nas casas antigas, do que havia de funcional nas soluções de mestres de obras que se orientavam, como os navegadores primitivos, pelos dados da natureza. E conseguiram corrigir desvios monstruosos para integrar a pedra, a cal, o cimento, o ferro, todos os elementos de construção, na intimidade da paisagem. Aconteceria então uma coisa extraordinária: as caatingas sertanejas, a floresta amazônica, as montanhas mineiras, os pampas gaúchos entram cidades a dentro, sobem para os arranha-céus e vão ajudar o homem moderno a ser mais humano, a ser mais da sua terra, a ser mais gente do que somente uma pobre máquina de viver. As casas, os palácios, as igrejas, serão assim como uma aroeira da mata, uma obra de raízes no solo, em vez de agredirem a natureza em derredor, compõem uma sinfonia completa. Homem e casa, homem e mata, homem e bichos não se encontram como inimigos a se defenderem uns dos outros. As paisagens das praias de coqueiros, das serras floridas de ipês e quaresmas, das margens dos rios, dos cimos dos morros, dão aos mestres arquitetos elementos para que eles possam servir ao homem com mais beleza, com mais utilidade e, portanto, com mais espírito humano. Pode hoje um brasileiro dormir, no rigor do verão, de portas abertas, com o quarto rodeado de plantas do sertão, lá em cima do décimo andar de um edifício. O perfume do campo entra-lhe casa a dentro e ele há de se sentir mais ligado ao mundo, mais criatura da terra. A casa se transforma num poderoso elemento vital, a casa não é mais fortaleza contra o meio, mas uma câmara de redução da natureza. Ela abre janelas, defende-se da luz, serve-se dos rios, sobe e desce montanhas. E será a casa brasileira a que tira da paisagem todos os elementos para ser mais bela e mais original, sem ser exótica. Os europeus que se assombram com a selva, imaginam que tudo é perigo e morte na selva. No brasileiro que a dominou ficaram restos de rancor contra ela. Não queríamos saber das nossas maravilhas vegetais. Mas todo esse terrível mal-entendido se acabou. As pazes se fizeram através de contatos procriadores. O homem e a paisagem já não se hostilizam. Os nossos pintores já não têm vergonha das nossas cores cruas e da nossa luz brilhante. Um Cícero Dias, mesmo longe de seu país, mete nas suas telas abstratas o verde do mar de Boa Viagem, os azuis e os encarnados das flores pernambucanas. É, a milhares de quilômetros da terra nativa, um homem que conduz no sangue a autenticidade do seu pedaço de terra. E desde que o homem se põe, assim, a serviço de suas forças demiúrgicas, terá que ser, não direi um escravo das forças telúricas, mas o que não pode passar sem elas.
Burle Marx, o grande artista dos nossos jardins, não faz outra coisa que procurar a terra para ser original e humano. Por isto, embrenhou-se pelas matas e trouxe de lá os seus jardins, manchas das caatingas, das plantas, das praias. Antigamente dizia-se, quando a cidade do Rio de Janeiro começava a adotar costumes europeus: ‘O Rio civiliza-se’. Mas não era propriamente civilização aquilo que se fazia contra a paisagem, que era a nossa originalidade. Não era civilização entupir baías, cobrir morros, pentear árvores. A civilização que era a nossa força estava justamente no que desprezávamos. Os modernos artistas querem salvar a nossa paisagem. O homem para bem viver não pode ser conduzido contra a paisagem. Ele não deve ser nunca um assassino de paisagens. Para ser mais humano tem que confundir-se com a natureza para amá-la como amante e fecundá-la como gênio procriador.
nota
1
Extraído de: REGO, José Lins do. A casa e o homem. Rio de Janeiro, Organização Simões, 1954, p. 7-14.
sobre o autor
José Roberto Fernandes Castilho é professor de Direito Urbanístico e de Direito da Arquitetura na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista – FCT Unesp.