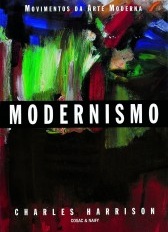Charles Harrison (1942-2009) foi um dos principais historiadores de arte de sua geração, com grande destaque internacional em pesquisa e registro de publicações de prestígio. Realizou contribuições significativas durante seu período como professor da Open University e da Faculdade de Artes Walton Hall, na Inglaterra, entre outras instituições de ensino. Foi um escritor prolífico, autor de livros sobre história da arte e estética, envolvido diretamente na prática da arte, trabalhando em estreita colaboração com artistas. Em Modernismo, Harrison discute as origens do moderno nas artes visuais e o significado do modernismo, termo para o qual existem divergências sobre a situação histórica: teve sua origem em épocas que variam do fim do século 18 ao início do século 20.
Segundo o autor, é comum associar o moderno a um “colapso do decoro tradicional na cultura ocidental, que previamente conectava a aparência das obras de arte à aparência do mundo natural” (p. 9). Então, uma obra de arte que não se assemelhe a algo natural seria qualificada como moderna, tendo como características as tendências de formas, cores e materiais com vida própria e inusitadas. Assim, as primeiras obras de arte evidentemente distinguíveis foram produzidas por artistas de vanguarda europeus das primeiras década do século 20, sendo o cubismo, de 1907, o que assinalou uma ruptura com estilos anteriores, sendo comparado ao Renascimento, em termos de ruptura de paradigmas.
Outras tendências viriam a ser também consideradas arte moderna, como o Fauvismo, o Futurismo, o Expressionismo, o Vorticismo, entre outros, bem como a arte abstrata, que vinha sendo perseguida por alguns artistas. Harrison considerava a arte moderna um paradoxo, pois, como estas obras, que se mantiveram incompreensíveis e não-atrativas para a maioria das pessoas, poderiam constituir uma arte que desempenhou um papel tão substancial na escolha da autoimagem cultural do século 20? O autor aponta que é se concebe o modernismo desta forma porque era impulsionado pela rapidez das transformações resultantes do progresso tecnológico e pela situação política mundial no início do século 20 – prestes a ocorrerem as duas grandes guerras mundiais, mas que essa descrição do modernismo é inadequada, já que se consideraria a arte do início do século 20 como uma expressão da modernidade sem considerar as preocupações e problemas específicos das práticas e tradições da arte, que podem ter sido elementos de motivação do desenvolvimento de novas formas e estilos. É complicado, segundo Harrison, encarar o modernismo como tendência “natural e inescapável” da cultura, visto que o mesmo era uma opção entre tantas outras e foi adotada apenas por uma minoria intelectual.

Pablo Picasso, Mulher com um livro,1932, oil on canvas, óleo sobre tela, 130,5 x 97,8 cm
Domínio público [The Norton Simon Foundation]
Já a arte clássica dos gregos e romanos constituía a fundação de uma tradição contínua, e sua realização seguia uma linha lógica de continuidade. Nestas circunstâncias, um artista que concebe a arte moderna como forma alternativa seria levado pela frustração com a rigidez e impessoalidade da gramática e do vocabulário da arte dominante. Apesar disto, o autor apontou anteriormente que mesmo artistas que produziam obras mais abstratas e de difícil compreensão, como Pablo Picasso e Joan Miró, tinham momentos nos quais era perceptível a referência ao classicismo e ao conservadorismo, como ponto de partida: “a prática da arte é necessariamente conduzida no contexto de alguma tradição da arte e em relação a outras obras de arte” (p. 12).

Joan Miró, Mulher e pássaro na frente do sol, 1968, Guache, giz de cera, pincel e nanquim sobre papel, 98cm x 70cm
Foto divulgação [Opera Gallery]
Harrison trata do termo tradição moderna como um posicionamento do artista que, mesmo mantendo uma relação com a cultura circundante, assumia uma posição contestadora. Aquele que pretendesse se afirmar enquanto artista moderno deveria, no entanto, desviar seu olhar da tradição clássica e ir em busca de outros modelos. No entanto, afirma que se pode reconhecer uma sensibilidade modernista que pode remontar ao período entre o fim do século 18 e o início do século 19, abarcando o Iluminismo europeu, a Revolução Francesa e o surgimento do Romantismo na Alemanha.
Para os iluministas, o pensamento crítico era importante para melhorar a educação e a situação social de uma sociedade, o que faz uma analogia ao pensamento crítico modernista, tão destacado pelo autor. Nesse período, pode-se reconhecer quatro tendências relevantes para a busca da origem do modernismo nas artes: a confiança na possibilidade de melhora nas relações sociais, o que seria alcançado através dos avanços tecnológicos e da adoção dos princípios racionais; a determinação em se romper com os modelos clássicos aristocráticos; a síntese entre a propensão a considerar a experiência direta a verdadeira fonte de conhecimento e o compromisso com o ceticismo em face das crenças e ideias feitas; e, a considerada pelo autor a síntese de todas as tendências, a valorização do papel da imaginação na salvaguarda e realização da liberdade e do potencial humanos, ou seja, a capacidade de imaginar algo em uma ordem diversa é uma condição necessária ao posicionamento crítico.
Harrison traz novamente o pensamento de Clement Greenberg para traçar as diferenças entre o que define como arte pré-modernista e arte modernista, que está no fato de que, no modernismo, as limitações do meio da pintura – a superfície plana, a forma do suporte, as propriedades do pigmento – são tratadas como fatores positivos e que podem ser expostos, o que não acontecia no momento da tradição clássica. O ponto de vista de Greenberg trazia como autocrítica a cultura moderna, pensamento o qual sua origem remontava ao Iluminismo.

Paul Cézanne, Madame Cézanne em uma poltrona vermelha, 1877, óleo sobre tela, 72,5cm x 56cm
Domínio público [Museum of Fine Arts, Boston]
A transição entre as formas artísticas clássica e moderna foi acontecendo gradualmente, e o autor afirma que a “distinção do temperamento modernista” se tornou clara durante os anos 1860, quando obras de Manet – apontado por Greenberg como o primeiro modernista – atraíram a atenção do público. Durante o Salon de Paris, destinado aos artistas membros da Real Academia Francesa de Pintura e Escultura, em 1863, o júri rejeitou cerca de 60% das obras inscritas, as quais foram exibidas no Salon des Refusés (1), criado pelo imperador Napoleão III, numa atitude aparentemente liberal, para que o público julgasse as obras por si mesmo. É curioso notar que o autor aponta que, entre os artistas que fizeram parte deste grupo, estão pintores que são considerados, atualmente, bastante representativos de seu tempo – entre eles, Cézanne e Manet. Contudo, indica que isto não quer dizer que estes artistas tenham realizado obras que possuam valores modernistas, mas sim que várias delas tenham sido tentativas malsucedidas de realizar pinturas acadêmicas convencionais.

Carolus Duran, Retrato de Mademoiselle de Lancey,1876, óleo sobre tela, 157cm x 211cm
Domínio público [Petit Palais, Paris]

Edouard Manet, Mulher com leque, 1862, óleo sobre tela, 90cm x 113cm
Domínio público [Szépművészeti Múzeum, Budapeste]
Mas como distinguir, naquele momento, as pinturas com de vanguarda daquelas simplesmente incompetentes para estarem entre as obras selecionadas para o salão principal? Provavelmente, a maior parte do público que visitou o Salon des Refusés não captou esta diferença. Para responder a esta pergunta, Harrison compara duas obras: Mademoiselle de Lancey (1876), de Carolus Duran, e Mulher com leques (1873), de Edouard Manet. As duas representam uma mulher de corpo inteiro sentadas e com o olhar direcionado ao observador. A primeira, porém, possui características realistas-naturalistas e a segunda representa a personagem mais próxima do espaço pictórico. Harrison traz uma reflexão importante nesta comparação: enquanto a obra de Duran constrói seu tema para que ele seja agradável para quem a observa, a pintura de Manet acentua o envolvimento do espectador com a obra, agindo sobre o espaço já ocupado e levando o espectador a redefinir uma autoconsciência em seus próprios temas, ou seja, pode induzir o espectador a assumir uma posição crítica sobre o tema:
“É como se a pessoa para quem Manet estava pintando fosse alguém para quem a realidade social representada pela mlle. De Lancey não era mais plausível ou atraente. Afirmar isto é também dizer algo sobre onde deveríamos buscar explicação para tais diferenças. É sugerir que não deveríamos pensar apenas em termos de evoluções na arte da pintura, mas também em termos de mudanças sociais e culturais mais amplas – processos e consequências da modernização – Às quais a própria pintura estava fadada” (p. 26).
Harrison ainda destaca que o público que consumia a arte dita moderna estava preocupado em distanciar-se dos gostos e valores da burguesia, mantendo um padrão distintivo, demonstrando o caráter “excepcional” dos seus gostos, e uma arte “difícil e impopular”, como a modernista, era bastante útil neste sentido. A arte modernista seria algo que exigia a interpretação do espectador, posicionando-o com relação aos costumes morais e intelectuais do seu tempo.
E a tradição crítica modernista foi formada a partir do trabalho dos escritores franceses do século 19 que se resguardaram nas obras de Manet e dos impressionistas, assim como o movimento simbolista da década de 1890. Porém, destaca que a caracterização modernista também teve um momento importante a partir dos trabalhos de críticos ingleses e norte-americanos, como Clive Bell, Roger Fry e Clement Greenberg. “Seus escritos deram uma expressão especificamente ‘Modernista’ ao pensamento moderno sobre a arte” (p. 40).
O texto ainda traz o conceito da forma significativa, definido por Clive Bell, que corresponde ao senso de valor associado à resposta à obra de arte, isto é, a emoção que esta provoca no espectador. Para os críticos de arte que seguiam a mesma linha de Bell, a representação pictórica era de fundamental importância para marcar a independência da obra de arte moderna com relação à representação do mundo natural na avaliação dos estilos, ou seja, no Modernismo, a obra de arte moderna adquire “voz” própria. A esta fuga da tradição clássica, soma-se a consciência de um parentesco com a arte dos primitivos – que, para os modernistas, não possuíam tradição nem história.
A nítida ideia de ruptura com a arte tradicional envolvia uma visão utópica do futuro, “baseada numa percepção crítica do presente e justificada por um ideal de potencial humano” (p. 47). No início do século 20, até a década de 1930, estes fatores começam a levar a arte moderna por um caminho cada vez mais figurativo, mais abstrato – do impressionismo ao pós-impressionismo, do cubismo ao abstracionismo – o que significava “caminhar numa linha fina entre o refinamento e a esterilidade” (p. 50). Obras como estas, segundo o autor, marcam a chegada do desenvolvimento modernista em seu aspecto purista, representando a visão de uma liberdade possível a todos, que se sustentava pela confiança na virtude de uma cultura liberal e pela crença no futuro de uma revolução socialista. Nesta época, houve, contudo, uma revalorização dos estilos racionalistas, tanto pela direita política, avessa à cultura modernista, quanto por uma parte da esquerda política, que via na defesa modernista da autonomia da arte a expressão do elitismo burguês.
Para Harrison, a crítica modernista nos deixa a lição de que se deve encarar a obra de arte moderna em seus próprios termos, antes de submetê-la à categorização, interpretação ou julgamento, pois esta está repleta de experiências. Em síntese, o autor descreve com propriedade a evolução do pensamento da vanguarda modernista, no campo das artes visuais, como quebra de paradigmas e construção de um pensamento crítico sobre o modelo clássico dominante. No último capítulo, aparentemente desloca-se do fio da narrativa do restante do texto, por fazer uma introdução à escultura e ao teatro modernos, sem aprofundar-se, mas lança, ao final, questões como a relação entre modernismo e cultura, que estimulam o leitor a buscar mais conhecimento sobre este tema tão instigante. A forma como o autor aborda o tema, que permanece bastante atual, auxilia o leitor a entender como o modernismo se constituiu, além de ajudar na reflexão sobre o surgimento do pós-modernismo, e como este limiar entre os dois momentos é tão importante.
nota
1
Salão dos Recusados, em tradução livre.
sobre os autores
Maria Izabel Rêgo Cabral é arquiteta e urbanista (UFPE, 2008), Master em Design del Prodotto D'Arredo pela Accademia Italiana Di Moda (Firenzi, 2010), mestre em Design (UFPE, 2017) e doutoranda (UFPE). É professora de arquitetura do Instituto Federal do Sertão Pernambucano.
Evandro Alves Barbosa Filho é graduado, mestre, doutor e pós-doutor em Serviço Social (UFPE, 2010, 2013, 2016, 2020), com estágio doutoral no PPG em Sociologia da University of Cape Town, África do Sul, 2015). É professor colaborador do PPG Serviço Social da UFPE e pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Sociais e Direitos Sociais – NEPPS/CNPq da UFPE.



![Paul Cézanne, <i>Madame Cézanne em uma poltrona vermelha</i>, detalhe, 1877, óleo sobre tela, 72,5cm x 56cm<br />Domínio público [Museum of Fine Arts, Boston]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/e6005bb4acad_cezanne_mulhercadeiravermelha_detalhe.jpg)
![Paul Cézanne, <i>Madame Cézanne em uma poltrona vermelha</i>, detalhe, 1877, óleo sobre tela, 72,5cm x 56cm<br />Domínio público [Museum of Fine Arts, Boston]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/e6005bb4acad_cezanne_mulhercadeiravermelha_detalhe.jpg)