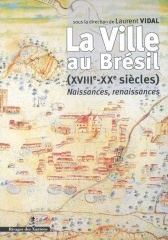O estudo da cidade pertence por definição a um campo conceitual interdisciplinar. A cidade é um espaço multifacetado, formado por um processo temporal complexo, com uma pluralidade de tempos descompassados, cuja combinação gera mudança a cada instante, como definiu Bernard Lepetit, diferente, segundo este autor, do tempo monótono da mecânica clássica e do urbanismo funcionalista. Um dos interesses da cidade, ainda seguindo Lepetit, é que ela não é um espaço que dissocia, mas, ao contrário, faz convergir nele fragmentos de espaço e hábitos vindos de diversos momentos do passado. Trata-se, portanto, de uma temporalidade e uma espacialidade com múltiplas subordinações e associações, que não se esgotam na descrição de seus processos morfológicos ou de suas realizações técnicas; ou como afirma o organizador do livro aqui resenhado, citando o cubano Alejo Carpentier, o gesto de fundar uma cidade se inscreve primeiro no tempo, antes de se inscrever no espaço. Ou seja, a cidade se constitui primeiramente por sua historicidade, ela é conceitual antes de materializar-se. Uma idéia “viajora e peregrina”, como a Jerusalém Celeste de Santo Agostinho, modelo de tantas cidades terrestres, um desejo de cidade, social e individual, uma dimensão psicológica da cidade, como recorda, ainda, o organizador em sua introdução. Esta obra, organizada pelo historiador Laurent Vidal da Universidade de La Rochelle, é resultado de um colóquio sobre a cidade brasileira realizado na França no ano de 2005, e procura oferecer olhares disciplinares cruzados sobre a cidade brasileira, a partir dos conceitos de nascimento, renascimento e decadência, para os quais os autores consideram o Brasil um terreno extremamente fértil de pesquisa.
Para Vidal, a cidade não adere ao espaço e ao tempo como um maciço montanhoso. Nem como um palimpsesto, como lembrou-nos Lepetit, quando a sua compreensão se esgotaria no achado dos vestígios antigos sobre a escrita mais recente. Ela se constitui de maneira complexa, numa rede de temporalidades “emaranhadas”, segundo Vidal. E o interesse pelo Brasil vem do fato de que aqui as cidades teriam se formado, nascido e, por vezes, morrido, num ritmo incessante, em transformações que unem quase num mesmo ritmo a criação e a destruição. É bem conhecida a impressão que a cidade de São Paulo deixou no jovem Claude Lévi-Strauss, professor da recém fundada Universidade de São Paulo, que lhe fez recordar aquele “espírito malicioso” que “definiu a América como um país que passou da barbárie à decadência sem conhecer a civilização”. Afirmou o antropólogo que, com mais justeza, se podia aplicar esta fórmula às cidades do Novo Mundo: “elas vão do frescor à decrepitude sem passar pela ancianidade”. A perspectiva dos vinte e cinco textos desta coletânea é a de procurar uma compreensão desta multiplicidade de processos históricos que engendrou a formação das cidades brasileiras, por meio de um diálogo entre pesquisadores das mais variadas formações profissionais e intelectuais.
O primeiro texto trata do Rio de Janeiro colonial do século XVI, a cargo de Mauricio Abreu que, como não podia deixar de ser, enfrenta o desafio de confrontar-se com o texto fundador de Sérgio Buarque de Holanda, O semeador e o ladrilhador, de seu Raízes do Brasil, e seu paradigma da desordem e da espontaneidade das cidades luso-brasileiras. Apoiado em fontes primárias, o geógrafo procura recuperar a cidade do Rio em seus primeiros momentos de existência, em seu nascimento, e as concepções urbanas que balizavam as decisões de seus governantes e moradores. Procura refazer também o desenho urbano de seu núcleo central, o Morro do Castelo, e a forma como a cidade surgiu não ao acaso na paisagem, mas se materializa “à partir da aplicação de um conjunto de regras e de procedimentos urbanísticos, provavelmente não especificados no papel, mas respeitados com rigor, desde os primeiros tempos”.
Contemplando a multiplicidade de pressupostos conceituais e fontes, o texto de Heliana Salgueiro trata das fotografias realizadas pelo imigrante francês Marcel Gautherot durante a construção de Brasília. A série de fotos vai bem além de um interesse puramente documental, revelando uma sensibilidade muito grande às camadas de sentido que formam os edifícios modernos e a criação da cidade-capital em meio à paisagem peculiar do cerrado brasileiro.
A cidade colonial, tão pouco estudada, retorna ao texto com os trabalhos de Renata Araújo sobre a pioneira Vila Bela, criada literalmente no “meio do mato” no século XVIII, que não deixava de ter até mesmo uma vida cultural e um teatro de ópera. Vila criada nos princípios pombalinos o que significa, como indica a documentação utilizada pela autora, que não havia sido criada para “o bem-estar e satisfação dos habitantes do Mato Grosso”, que não haviam pedido ou necessitado de sua fundação, mas por conta da “proximidade desta região com as terras de Espanha”, eterna contrária, o que justificava a sua criação bem como eventuais incômodos a seus habitadores. Cada cidade nasce por razões próprias e, como diz Calvino, cada uma “recebe a forma do deserto a que se opõe”.
A selva brasileira, o nosso deserto verde, tem esse capricho de engendrar cidades que se lhe opõem. Martine Droulers e Laurent Vidal examinam a criação de Porto Velho, inicialmente um empreendimento comercial surgido na seqüência da exploração da borracha e da definição de fronteiras com a Bolívia, que estipulava a construção da famigerada ferrovia Madeira-Mamoré, da qual nasceu a atual capital do estado de Rondônia. Os autores demonstram como se deu o processo de construção da cidade num espaço de autonomia jurídica da companhia de Percival Farquhar, longe da presença da administração brasileira, tornando-a uma Babel amazônica, segundo os autores. Em seguida, vemos como a cidade, na medida em que a empresa ferroviária degringola, torna-se uma cidade administrativa, ponta de lança da ocupação da Amazônia, apagando de seu espaço a memória da cidade-empresa, tornando-se capital.
A zona cafeeira, tanto carioca como paulista, aparece nos trabalhos de Fania Fridman sobre o vale do Paraíba, e de Maria Encarnação Beltrão Sposito, sobre as cidades cafeeiras de São Paulo. Para o século XX, Hervé Théry observa o nascimento de redes de influência das capitais, destacando o caráter policentrado e desigual das hierarquias urbanas, desigualdades que segundo o autor são características das verdadeiras capitais que impõem sua dominância, fazendo de São Paulo, para o autor, a real capital do Brasil.
O primeiro texto da segunda parte, sobre a decadência ou morte das cidades, parece questionar o próprio enunciado deste título. Tratando de Vila Rica nos séculos XVIII e XIX, Cláudia Damasceno Fonseca e Renato Pinto Venâncio, que discutem a idéia onipresente na historiografia tradicional de Minas da decadência econômica da capitania com o fim da mineração e a conseqüente estagnação de sua capital. Numa análise documental acurada, os autores questionam a repetição da tese da estagnação por diversos autores, sem atenção ao que diziam as fontes primárias, tomando a diminuição territorial, e conseqüentemente populacional, de diversos municípios brasileiros no século XIX, como índice de decadência. Vale lembrar que este argumento vale para São Paulo no século XVIII, quando a cidade perde os distritos de Nazaré e Atibaia. No texto dos autores, Vila Rica aparece com um óbvio declínio demográfico, com um desenvolvimento irregular, mas com uma atividade constante, que decai muito apenas após a construção da nova capital, Belo Horizonte.
As cidades das letras também estão contempladas nos textos de Tania Regina de Luca, sobre as Cidades Mortas de Monteiro Lobato, ou a Canudos de Euclydes da Cunha e de Mario Vargas Llosa, no capítulo assinado por Rémy Lucas. A cidade e o texto se encontram também no trabalho de Maria Stella Bresciani, sobre as representações da cidade na formação do pensamento urbanístico em São Paulo, na passagem do século XIX para o XX. Este texto discute a tão propalada tese da “importação das idéias”, ou de modelos urbanísticos pelos engenheiros brasileiros, tratadas como “idéias fora de lugar”. A autora prefere percorrer o caminho de pensar essas “apropriações” como resultantes de “um processo conflituoso que precede e rege a escolha entre as opções disponíveis e compartilhadas em um campo comum de conhecimentos”. Tratando dos “melhoramentos” propostos para São Paulo por diversos prefeitos e engenheiros, como Vítor da Silva Freire, Prestes Maia ou Anhaia Mello, Bresciani acompanha a formação de propostas de intervenção não mais pontuais, como no Império, mas planos de intervenção global, corretivos na região central e projetivos para as zonas de expansão.
E a cidade contemporânea aparece em todas as suas cores e formas no capítulo de Alain Musset, sobre seus muros e seus grafites, que o geógrafo francês aproxima do muralismo mexicano, embora o Brasil nunca tenha tido uma tradição nesse tipo de arte. Musset considera essa forma de expressão eminentemente urbana como sendo “rica em referencias cultas”, enquanto a pichação, uma outra maneira de se expressar nos muros da cidade, corresponderia a um tipo de “gíria”. Mas a relação mais surpreendente é a que o autor estabelece entre as imagens pintadas por estes artistas, profissionais ou amadores, com os vitrais das catedrais medievais, que contavam os passos da paixão de Cristo, e com a utopia da Cidade do Sol de Tommaso Campanella, cuja cidade ideal tinha seus muros cobertos de pinturas destinadas à educação do povo, proposta que o autor também identifica nos grafites das cidades brasileiras.
Este livro, por fim, enfrenta por vários flancos, pressupostos teóricos, formações profissionais, o instigante desafio de abrir as portas conceituais que encerram a cidade brasileira, em suas dimensões espaciais e temporais, num diálogo interdisciplinar que esperamos dê muito mais frutos.
sobre o autor
Amilcar Torrão Filho, professor do Departamento de História da PUC-SP