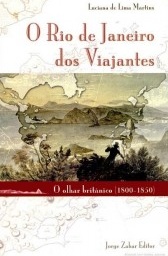Mais que um livro sobre viajantes oitocentistas, encontramos uma denodada pesquisa sobre a inauguração de visões, e formação de novo olhar pelo contato com paisagens estrangeiras em O Rio de Janeiro dos viajantes: o olhar britânico (1800-1850), da arquiteta Luciana Martins.
Esse livro apresenta diversos olhares para a paisagem carioca transpostos para pinturas em óleo sobre tela, aquarelas, desenhos, coleções de espécies da fauna e flora, e narrativas escritas pelos viajantes britânicos. A autora o define como um livro que reporta modos de ver, expressão que sublinhamos por consistir numa das ideias relacionadas à paisagem por Denis Cosgrove (1).
Esse geógrafo, na introdução à edição em paperback de seu livro Social Formation and Symbolic Landscape, reunião de ensaios sobre a paisagem, primordialmente admite a ambiguidade e a complexidade que as paisagens atuais incorporam. Mais ainda, refere-se a uma inalienável apreensão interna da terra – da natureza e do senso de lugar – aliada a uma perspectiva externa, que qualifica de mais crítica e consciente: o que ele nomeia de “o modo de ver a paisagem”.
Num procedimento análogo também ao de Raymond Williams (2), para quem é intrínseca a consciência de se estar olhando para a vista, e de que é no ato de observar que a paisagem se forma, Luciana Martins nos remete às narrativas de expedições e viagens relacionado-as a uma intensificação da curiosidade por cenas exóticas, mas também a um desejo de legitimidade científica.
A autora data a virada do século 19 como a da profissionalização do olhar ocidental para a natureza, situando historicamente no início daquele século as primeiras incursões de viajantes europeus não-ibéricos, de várias nacionalidades, para a América do Sul.
Debruçando-se especificamente sobre a iconografia produzida por esses viajantes acerca do Rio de Janeiro, a autora define sua pesquisa como uma tentativa de entender o processo cognitivo de produção de imagens dessa cidade. A premissa admitida para tanto é a de que é justamente o observador quem transforma a cena carioca de montanhas, mar e construções em paisagem.
Ademais, a autora sublinha o papel desse personagem valendo-se de uma terminologia cara à iconografia, definindo-o como quem imprime sentido à paisagem por selecionar, emoldurar ou sombrear seus componentes. Consigna essa ideia de observador, declarando que seu estudo procura demonstrar uma característica que qualifica de inextricável: a da natureza cultural da paisagem; sendo ela o que faz sujeito e o objeto constituírem-se mutuamente. Discernindo esses aspectos culturais envolvidos no caráter do observador, define-o como “aquele que vê a partir de uma série preestabelecida de possibilidades, encontrando-se imerso em um sistema de convenções e limitações” (3).
Atendo-se a vasta iconografia, a autora frisa que: “os diversos olhares britânicos não perfazem um modo de ver homogêneo e coerente” (nota i, p. 41). O observador em questão é influenciado pelas conquistas, no século 19, da nova ciência da fisiologia óptica. A esses estudos, que condicionam o conhecimento ao funcionamento físico e anatômico do corpo, e especialmente dos olhos, a arquiteta relaciona a formação de um observador para quem o próprio corpo “torna-se o locus da verdade e do poder” (p. 44).
Consoante tal visão, um conceito especialmente caro à sua pesquisa é o da geografia imaginativa dos navegantes britânicos oitocentistas. Com ela, pretende demonstrar a influência da Inglaterra na formação do que chama de uma geografia do mar. Esse conceito, a seu ver, tomou forma com a atuação dos navegadores e sua participação na transformação do que considera o outro mundo visível e reconhecível aos olhos de seus pares, o das terras distantes. Aponta, inclusive, como essas paisagens e sua difusão pela navegação repercutiram no partido arquitetônico do projeto da edificação da maior estufa do mundo, Kew Garden, de 1849, em Londres.
Uma particularidade do novo observador, o “observador-em-trânsito” reside no fato de que para ele, o “livro da natureza” (4) não cabia mais nos limites dos jardins botânicos, o que contribuiu para a emergência de uma nova concepção de tropicalidade. Em suma, em sua pesquisa, notamos tanto a transformação da paisagem estrangeira, sob o olhar do viajante em seu contato com os trópicos, quanto a insurgência de novas ideias a seu respeito, por esse novo observador.
Publicado muito antes que o Rio de Janeiro figurasse na Lista do Patrimônio Mundial como “Paisagens cariocas entre a montanha e o mar” (5), este livro pode ser considerado visionário.
notas
1
COSGROVE, Denis E. Social formation and symbolic landscape. London, The University of Wiscosin Press, 1998, p. XIV.
2
WILLIAMS, Raymond. O campo e a cidade na história e na literatura. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
3
Cf. LORDELLO, Eliane. A propósito de um clássico. O campo e a cidade na história e na literatura. Resenhas Online, São Paulo, ano 06, n. 069.02, Vitruvius, set. 2007 <www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/06.069/3105>.
4
Alberto Manguel explica o surgimento dessa ideia reportando o crítico alemão E. R. Curtius, quem relata que: “a ideia de que o mundo e a natureza são livros deriva da retórica da Igreja católica, assumida pelos filósofos místicos dos primórdios da Idade Média e finalmente transformada em lugar comum” (CURTIUS, 1848. Apud MANGUEL, Alberto. Uma história da leitura. São Paulo, Companhia das Letras, 2001, p. 197). No âmbito literário, Manguel cita uma ocorrência dessa expressão em 1744 na obra Sendescreiben de Goethe: “Vê como a natureza é um livro vivo, / Incompreendida, mas não incompreensível” (GOETHE, 1744. Apud MANGUEL, 2001, p. 192).
5
Cf. UNESCO, Rio de Janeiro: Carioca Landscapes between the Mountain and the Sea. Disponível em: <http://whc.unesco.org/en/list/1100>. Acesso em: 12 jan. 2016.
sobre a autora
Eliane Lordello, arquiteta e urbanista (UFES, 1991), mestre em arquitetura (UFRJ, 2003), doutora em desenvolvimento urbano na área de Conservação Integrada (UFPE, 2008) é arquiteta da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo.



![William Havell, Garden Scene on the Braganza Shore, Rio de Janeiro. Guache sobre tela, 1827, Reading Museum and Art Gallery<br />Imagem divulgação [ilustração VII do livro]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/d817b9853e91_lordello.jpg)
![William Havell, Garden Scene on the Braganza Shore, Rio de Janeiro. Guache sobre tela, 1827, Reading Museum and Art Gallery<br />Imagem divulgação [ilustração VII do livro]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/d817b9853e91_lordello.jpg)