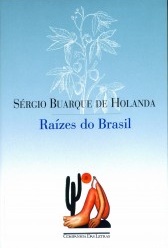Estivemos acostumados a pensar que a primeira e consagrada obra de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, tenha se caracterizado, desde sua estreia, em 1936, por sua argumentação antitradicional e seu caráter de defensor dos valores democráticos. No Clássico por amadurecimento, Luiz Feldman (1) mostra não ser exatamente assim. Muito embora a formatação do capítulo final do Raízes, significativamente sempre chamado “Nossa revolução”, mostre que a posição do historiador não se confundia com o estrito retrato que Feldman mostra de sua obra de estreia (2), de fato não era justa a ideia homogênea que foi mantida de sua obra – o modelo clássico da suposta absoluta coerência é fornecido pelo prefácio de Antonio Candido à edição definitiva (3). Por isso mesmo se justifica a obra de Luiz Feldman. Por ela, não só não só se alcança uma compreensão menos imperfeita, como se torna mais flagrante sua distinção com o permanente conservadorismo de Gilberto Freyre. Contudo, como logo perceberá o leitor, a emenda acima indicada não me importou por si mesma senão enquanto meio de esclarecer a função da cordialidade na formação brasileira; é em decorrência do papel que se lhe atribuirá, entre as edições de 1936 e 1969, que será extraído o argumento para pensar-se teoricamente, dito de modo mais preciso, metaforologicamente, as transformações interpretativas da cordialidade.

Capa da segunda edição de Raízes do Brasil
Imagem divulgação
Para começo de conversa, lembre-se o que declara Feldman: “Na redefinição das qualidades do homem cordial, estava em causa a ideia mesma de uma identidade nacional”. Se recordamos o papel que, na 1ª edição, desempenhava a tirada de Ribeiro Couto, ficamos desconfiados da ênfase concedida à cordialidade. Conceda-se que o raciocínio de Sérgio Buarque não a tomava como base de seu argumento. Nem por isso, no entanto, era menor seu destaque:
“O escritor Ribeiro Couto teve uma expressão feliz quando diz que a contribuição brasileira para a civilização será a cordialidade – daremos ao mundo ‘o homem cordial’. A lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade [...] formam um aspecto bem definido do caráter nacional. Seria engano supor que, no caso brasileiro, essas virtudes possam significar ‘boas maneiras’, civilidade. São antes de tudo expressões legítimas de um fundo emocional extremamente rico e transbordante” (4).
Como diretor da coleção “Documentos brasileiros” em que o Raízes seria publicado, Gilberto Freyre conhecia o texto antes de ser ele editado. Daí o reconhecimento de sua importância para sua tese da ascensão dos diversos tipos de mulatos, que desenvolverá em Sobrados e mucambos. A cordialidade se punha a serviço dos mestiços amáveis, delicados, risonhos, carinhosos:
“Ninguém como eles é tão amável; nem tem um riso tão bom; uma maneira mais cordial de oferecer ao estranho a clássica chicrinha de café; a casa; os préstimos. Nem modo mais carinhoso de abraçar e de transformar esse rito [...] de amizade entre homens em expansão caracteristicamente brasileira (5).

Capa da quinta edição de Raízes do Brasil
Imagem divulgação
Condenso seu argumento: na competição profissional, o mulato dispunha do riso contra o branco, “como um dos elementos mais poderosos de ascensão profissional” (6). Tal docilidade não se confundia com o riso servil do homem negro; era, “quando muito, obsequioso, e, sobretudo, criador de intimidade” (7). Mas não pretendo destacar apenas o caráter do argumento. Para a inegável capacidade de convencer de Freyre, contribuiu a própria afabilidade nada convencional de sua linguagem. O sociólogo não só escrevia bem, como é de reconhecimento geral, mas desenvolvia o que chamarei de estilo jeitosamente cordial:
“Seu riso foi não só um dos elementos, como um dos instrumentos mais poderosos de ascensão profissional, política, econômica; uma das expressões mais características de sua plasticidade, na transição do estado servil para o de mando ou domínio ou, pelo menos, de igualdade com o dominador branco, outrora sozinho, único. Na passagem não só de uma raça para a outra como de uma classe para outra” (8).
A argumentação de Freyre dava força bem maior que à extraída da carta de Ribeiro Couto. Mas, coerente com seu conservadorismo de raiz, não lhe interessava acentuar que o riso derramado, a gentileza a toda prova, a ilimitada cordialidade eram formas também subalternas, voltadas para corrigir o desnível social do mulato. A Freyre, importava o movimento de partida; não lhe dizia respeito que, tendo êxito, a ascensão se restringia a este ou aquele mulato de vitorioso. Ainda que fossem muitos os que vencessem, a cordialidade era uma carta no baralho da ascensão social. Sem ela, o jogo, a confundir-se com a vida, estaria perdido. Com ela, quem saberia onde não se poderia ir?
Não me demoro no que é bastante conhecido porque meu interesse está em algo ainda não explorado. Tampouco me demoro na vantagem que Sérgio Buarque encontrará ao se deparar com a interpretação adversa de Cassiano Ricardo. Deixo de lado as mudanças sensíveis que o Raízes já encontrará na edição de 1948, para nos prendermos à dura objeção à contra-argumentação ao poeta, na edição definitiva de 1969.

Capa da sexta edição de Raízes do Brasil
Imagem divulgação
Cassiano Ricardo se opusera ao uso do termo cordial, porque ele seria demasiado formal e protocolar, quando o “capital sentimento” do brasileiro seria a bondade ou mesmo certa “técnica de bondade”. Não nos surpreende que alguém pudesse associar o capital de sentimento e bondade a toda uma população, pois a conexão fazia parte da retórica de um defensor letrado do Estado Novo. [Feldman, no livro já citado, mostrará que Almir de Andrade, em Força, cultura, liberdade, de 1940, voltará à cordialidade como princípio fundador do Estado Novo] (9). Cordialidade ou bondade, o que seria próprio do brasileiro?! A pergunta seria prova de estupidez ou de como os intérpretes são capazes de optar pela calhordice, se também não nos oferecesse a abertura de uma trilha nova. Essa trilha inédita estará na dependência de verificarmos a flexibilidade de que, no jogo político, as palavras são capazes de assumir.
Como demonstra o próprio áspero debate de Sérgio Buarque com Cassiano Ricardo não é fácil de imediato perceber como essa trilha se desenvolve. Ao se indispor contra o dilema do “bandeirante”, o historiador esquece, como lembra Feldman, que, na edição de 1936, para ele próprio, a esfera da cordialidade se estendia até à bondade. É o que declara a formulação inequívoca: “Com a cordialidade, a bondade, não se criam os bons princípios” (10). Como se explicaria tanto a equivalência dos termos, como, posteriormente, a indignação de Sérgio Buarque contra o primado da bondade pretendido por Cassiano Ricardo? Não será preciso gastar muitas palavras. Na dependência dos interesses políticos, manifestados com motivação tendencialmente inconsciente, os vocábulos atingem uma elasticidade que, vista de fora, parece se confundir com uma inexplicável volubilidade. A elasticidade indicada faz com que o termo abandone sua pista dicionarizada, se amplie e assuma o que caberia como uma das modalidades do que Lévi-Strauss veio a chamar de “significante flutuante”.

Capa da décima primeira edição de Raízes do Brasil
Imagem divulgação
Em Sobrados e mucambos, Freyre começara a demonstrar por que assim se dava com a cordialidade. Sua flutuação, compreendendo lhaneza, facilidade de trato, afabilidade, por que não conduta bondosa, era justificada por nossa tradição ibérica e patriarcal e tinha como solo motivador a extrema desigualdade entre o branco dono de terras, a pequena margem de artesãos, a imensa margem de massa escrava e, depois da abolição, dos filhos sem terra e sem trabalho de ex-escravos. A flutuação resultante era, de sua parte, resultante de que, assumindo uma figuração metafórica, os termos aproximados constituíam, como dirá mais recentemente. Hans Blumenberg, o fóssil-guia (Leitfossil) “de uma camada arcaica da curiosidade teórica” (11). No caso em pauta, a conjunção flutuante é movida por uma curiosidade menos teórica do que pragmaticamente política. O Estado Novo é justificado como manutenção de um patrimônio secular e seus justificadores lançavam mão de um estoque em cujas extremidades estavam, de um lado, a cordialidade e, do outro, a bondade. Provavelmente, sem jamais perceber por que acertara, Sérgio Buarque, no relance de uma frase, pusera a ‘bondade’ no frouxo leito semântico da cordialidade. Cassiano Ricardo, ressaltando essa e renegando o eixo flutuante, a ‘cordialidade’, se punha na corrente oposta, isto é, ressaltava do significado flutuante apenas o lastro que lhe interessava ideologicamente. A arbitrariedade do defensor do Estado Novo teve, entretanto, a qualidade de irritar o historiador e, na edição definitiva de 1969, de fazê-lo retornar ao Schmitt que mostrava conhecer desde a edição princeps e agora destacar a passagem capital que Carl Schmitt recolhera do Digesto romano.
Como, por força da tradição patriarcal, não reconhecemos senão o outro privado – o outro patriarca, o outro branco ligado à posse da terra, contra o qual o mulato precisa se armar de uma infinita afabilidade – desconhecemos o público do privado, o inimigo público do adversário privado e então nos comportamos na esfera pública do mesmo modo como na esfera privada, não conhecendo outro mérito nos detentores dos cargos públicos senão a amizade ou a aliança política.

Capa da décima sétima edição de Raízes do Brasil
Imagem divulgação
Do que se escreveu acima, talvez alguma novidade esteja na introdução do “significante flutuante” e no caráter de fóssil-guia que a metáfora pode assumir. Mas a própria justificação de um e outro conceito se encontra em texto estranhamente muito pouco divulgado. Ele se escancara em resenha que Élisée Reclus publica, ainda em 1863, em que, a propósito do Viagem pelo norte do Brasil no ano de 1859, do médico sanitarista von Avé-Lallemant, o geógrafo suíço comparava a escravidão no Brasil e nos Estados Unidos. Conhecer a passagem equivale a perceber o quadro vivo em que fermenta a nossa cordialidade. A alusão de Ribeiro Couto à cordialidade em carta ao embaixador mexicano no Brasil, o aproveitamento sociológico certeiro que Freyre dela faz, a apropriação ideológica que promovem Cassiano Ricardo e Almir de Andrade, antes de virmos à sua transformação na edição de 1969, pareceriam peças razoavelmente sem maior alcance, termos sem muita propriedade interna se, graças a Reclus, não tivéssemos condições de verificar por que tal significante flutuante, verdadeiro enquanto flatulento, à semelhança da conduta prestativa do mulato que a adotava para compensar sua desigualdade, era a luva que se ajustava à mão de nossa sociedade. O serviço portanto que nos presta o geógrafo anarquista suíço é tamanho que seu longo fragmento se introduz em nossa argumentação, que há de ser interrompida enquanto o traduzimos:
“Certas formas de escravidão [...] são incontestavelmente muito mais cruéis nas plantations norte-americanas que nas fazendas do Brasil e, no entanto, se não temesse cometer uma verdadeira blasfêmia ao associar ideias tão contraditórias, diria que a instituição servil nos Estados Unidos oferece uma aparência de moralidade que se procuraria em vão no Brasil. Os fazendeiros norte-americanos, advertidos pela reprovação de seus compatriotas e pela voz se sua própria consciência, nunca deixaram de discutir a escravidão do ponto de vista da justiça. Tinham mesmo desde logo a condenado e, aqui e ali, haviam tomado certas medidas para preparar a sua abolição: depois, quando os interesses particulares e as ambições políticas modificaram suas primeiras opiniões, se esforçaram em ao menos justificar sua causa por todos os argumentos imagináveis. Essa pretensão testemunha ao menos uma certa necessidade de justiça que as instituições puderam perverter, mas que não puderam completamente suprimir.
Ao contrário, imersa completamente na escravidão, a sociedade brasileira não poderia apreciar sua justiça ou iniquidade: o fato monstruoso da posse do homem pelo homem lhe parece tão natural, tão pouco repreensível que o próprio estado compra ou recebe em herança negros e os faz trabalhar em benefício do orçamento. Também os conventos têm sua criadagem africana, de que os contratos de venda declaram ser a propriedade real de São Benedito ou do não menor Santo Inácio. Do mesmo modo, por pura caridade de alma, os administradores do hospício do Rio de Janeiro adquirem negras como amas de leite das crianças abandonadas. Além do mais, segundo Avé-Lallemant, médicos especuladores se dirigem ao público por meio dos jornais e adquirem negros doentes ou esgotados aos quais procuram recuperar para, em seguida, revendê-los a bom preço; vêm-se, em fim, negros possuírem outros negros, aos quais transmitem sua própria ocupação sem que eles próprios possam se liberar porquanto a condição de escravo parece normal neste país infeliz. É mesmo em parte devido à simplicidade mais ou menos ingênua com que os donos de escravos encaram o destino de seu gado humano que este deve a relativa doçura de sua existência. Os senhores devem ser bons príncipes porquanto importunos abolicionistas não vêm ameaçar sua propriedade sagrada. Não se creem obrigados, como seus confrades norte-americanos, a inventar para o negro um novo pecado original, nem em erigir como sistema a distinção absoluta das raças, nem em estabelecer uma barreira infranqueável entre a descendência dos escravos e dos homens livres. De modo algum aprovam a necessidade de se empenhar na descoberta de uma filosofia que lhes permita agravar a servidão. Além do mais, a aspereza mais ou mais empregada na exploração dos escravos está sempre em razão direta do valor monetário dos braços: ora, até estes últimos anos, o trabalho dos negros brasileiros, sem cessar alimentado pelo tráfego, representava um capital muito menor que o dos negros norte-americanos.
Para desculpar a escravidão imposta pelos fazendeiros no Brasil, pessoas de boa fé têm com frequência pretendido que ela tem apenas o nome em comum com a escravidão norte-americana e realizava integralmente o ideal tal louvado da vida patriarcal. Uma comparação rápida estabelecida entre os dois países em que reina a servidão involuntária parece, com efeito, conceder de início algum valor à afirmação. Os escravos das fazendas brasileiras, formando cerca de cinco sextos da população servil, gozam no domingo de uma liberdade relativa, como os negros norte-americanos; têm entretanto mais do que esses numerosos dias feriados, distribuídos ao longo do ano. A cada quinzena, a maior parte das fazendas lhes concede o dia do sábado para que possam cultivar suas próprias hortas, que recebem o título de fazendas, e assim acrescentar algumas frutas e certas raízes à provisão regulamentar de carne seca, fornecido pelo administrador. Nas grandes cidades de comércio, os senhores, demasiado indolentes para que eles próprios dirijam o trabalho de seus escravos, chegam a deixá-los completamente livres para ganhar a vida como queiram, com a condição de que produzam diariamente uma soma de antemão fixada. Entregues à sua própria iniciativa, os negros se organizam mais ou menos livremente em bandos de trabalhadores, escolhem um chefe e veem oferecer seus serviços como carregadores ou estivadores aos negociantes e aos capitães de navios. Durante o dia, esses escravos, não vigiados pelo olho do senhor, podem durante algumas horas imaginar que são livres. Precedidos por uma espécie de músico que os excita, sacudindo pedaços de chumbo (chevrotine) dentro de uma cabaça, se estimulam mutuamente por um canto ritmado ou por gritos cadenciados. Belos, vigorosos, semelhantes a estátuas fora de seus pedestais, cruzam as ruas sem se dobrar ao peso de suas cargas enormes e, com frequência, põem no cumprimento de seu trabalho um verdadeiro entusiasmo de combatentes. Milhares de negros, na maior parte pertencentes às diversas tribos dos Minas ou negros da Costa do Ouro, que se distinguem entre todos por sua beleza física, sua inteligência e seu indomável amor à liberdade, podem assim diariamente adquirir um certo benefício que acumulam cuidadosamente e contemplam com avareza como penhor de sua futura emancipação. Com efeito, a lei brasileira, menos terrível que os códigos negros dos estados confederados, não encerra o escravo em um círculo infranqueável de servidão: não o impede de se resgatar por seu trabalho e de sacudir a poeira de suas roupas para sentar-se ao lado dos homens livres. Além do mais, ela também lhe dá a permissão tácita de se instruir, se encontra tempo e coragem; autoriza-o a fortificar sua inteligência em vista de uma liberação possível, e não condena à prisão o branco caridoso que lhe ensina a arte diabólica da leitura. O acaso de seu nascimento pode igualmente salvar o escravo e conceder-lhe sua independência, pois é costume no Brasil emancipar os mulatos e a lei ainda não se interpôs entre o pai e o filho para interditar ao primeiro que reconheça seu próprio sangue. Na população brasileira de cor, avalia-se em um sétimo apenas o número de mulatos condenados à escravidão, enquanto que em toda a extensão da república anglo-saxônica, aí compreendendo mesmo os estados livres, contam-se quase dois homens de cor ainda escravos contra um só liberto.
Também com vantagem para o império sul-americano pode-se dizer que o abismo cavado entre o branco e o negro liberto é muito menos profundo que nos Estados Unidos. Não poderia ser de outro modo em um país em que o número dos brancos livres de toda mistura chega apenas a um milhão, aí compreendendo os estrangeiros e assim forma no máximo um oitavo da população. É em vão que se aplicam medidas diversas que recordem aos libertos sua antiga servidão e os rebaixem no interior da sociedade brasileira: protegidos pelos costumes, eles se cruzam livremente com as castas superiores, a população mestiça cresce sem cessar em uma proporção considerável e, apesar da soberba dos que se mantiveram puros de toda mistura pode-se prever estar próximo o dia em que o sangue dos antigos escravos correrá nas veias de todo brasileiro. Essa invasão gradual já fez dobrar bastante barreiras. Os filhos dos negros emancipados tornam-se cidadãos; entram no exército e na marinha, com maior frequência, é verdade, em consequência de um recrutamento forçado e podem, do mesmo modo que seus companheiros de armas de raça caucásica falar da causa da pátria e da honra à bandeira. Alguns sobem de grau em grau e comandam brancos, que permanecem seus subordinados; outros se dedicam às profissões liberais e se tornam advogados, médicos, professores, artistas. É verdade que a lei não concede aos negros o direito de entrar na classe dos eleitores, nem na dos elegíveis; mas os empregados de pele mais ou menos escura não sofrem diferença alguma em serem reconhecidos como brancos todos os que queiram dizer-se tais e recebem os documentos necessários para que seja assim estabelecido legalmente e de uma maneira incontestável a pureza de sua origem. É assim que os filhos de antigos escravos podem ingressar na carreira administrativa e mesmo fazerem parte no congresso, ao lado dos nobres fazendeiros. No Brasil, não é a cor que faz vergonha, é a servidão. Todos estes fatos são da maior importância para o futuro do país, mas não podem servir de desculpa para a escravidão brasileira, que, por sua própria natureza, é idêntica a “a instituição divina” dos anglo-americanos. Seja o senhor um patriarca ou um tirano, não é menos o possuidor de outros homens, aos quais usa segundo sua vontade e quanto aos quais sua própria justiça não é senão arbitrária. Se ele achar conveniente, pode espancar e torturar; pode impor cadeia, grilhões, coleira ou qualquer outro instrumento de suplício. Toda senhora refinada que, por vaidade, venha cobrir suas negras com seus próprios adereços para dar aos estrangeiros uma ideia elevada de sua riqueza, pode um instante depois fazer que as mesmas mulheres sejam espancadas, ainda ornadas de seus colares de ouro ou de pérolas. Este proprietário empobrecido, que sempre teve a maior doçura com seus escravos vende uma parte deles para resgatar suas propriedades endividadas: separa o amigo do amigo, talvez o filho do pai e o deixa levar por algum estrangeiro ávido para uma fazenda distante. Dramas semelhantes provocam uma desmoralização maior que a familiaridade que parecia a mais íntima entre o senhor e o escravo. Ruidosas explosões de riso dos negros e das negras ecoam com frequência nas ruas da Bahia e do Rio de Janeiro; mas, se se passa diante das prisões, em que, ante a simples requisição do proprietário, os chicoteadores pagos pelo estado batem nos escravos, escutam-se os gritos de dor a consoar com a ruidosa hilaridade das ruas (12).
Sem que o desenvolvimento acima possa ser substituído por nada, a síntese de seu argumento está na frase: “Imersa completamente na escravidão, a sociedade brasileira não poderia apreciar sua justiça ou iniquidade”. Em consequência, a desigualdade radical era apreciada como um dado natural. O que implicava a absoluta igualdade permeada pela desigualdade constituída pela suposição: a sociedade humana é formada por homens-com-terra e homens-sem-terra. Tal assimetria concretiza um só espaço: o espaço privado. A naturalidade da escravidão, que a tornava praticada desde o senhor de terra, passando pelo Estado, até às ordens religiosas, impedia que houvesse a noção do espaço público, onde haveria de imperar, ao menos idealmente, o espaço da lei, a norma válida para todos. Daí o prestígio da metáfora da cordialidade. Entenda-se bem: não se diz que ela fosse determinada pelas condições sociais. Ela é por certo motivada por ela. Enquanto tal, podia dar lugar a outra metáfora, desde que ela fosse igualmente congraçadora e, como tal, viesse a partilhar da amplidão semântica própria de um significante flutuante.

Capa da vigésima terceira edição de Raízes do Brasil
Imagem divulgação
É de supor que, por várias razões, a cordialidade se impusesse contra alguma outra prática metafórica antes próxima da raiz da rudeza. Creio que a primeira fosse não haver na tradição ibérica, ao contrário da saxônica, a crença arraigada na diferença das raças. O evolucionismo de Darwin rapidamente contaminou a reflexão social saxônica e estabeleceu o dogma das desigualdade das raças, que não havia estado em sua doutrina original, ao passo que, na tradição ibérica, a escravização do indígena antes provocaria a discussão de ordem teológica entre os religiosos Victoria e Bartolomé de las Casas. No ambiente menos cultivado da península ibérica, onde a escravidão africana era anterior à colonização americana, o branco considerava que naturalmente os senhores eram de sua cor e os escravos, de cor negra. Assim nenhuma razão biológica o impedia, nas colônias americanas, de frequentar a cama de suas escravas. Creio que o segundo motivo, associado àquela, fosse que uma prática cordial trouxesse inúmeras mais vantagens e fosse pouco propiciadora de conflitos.
Não sei se essas razões são suficientes. O fato é que Reclus nos faz verificar que há uma razão social para que a metafórica dominante fosse a que Sérgio Buarque começou a explorar em sua obra de estreia. Mas sua função principal não foi a de introduzi-la senão de, já a associando desde 1936, à questão da divisão dos espaços, só haver sido alertado plenamente para o papel desempenhado por essa divisão por meio da provocação despertada pela contradição de Cassiano Ricardo. É ela que o leva a chamar a atenção para a passagem do Digesto, tal como Carl Schmitt a lera: “Inimigo público é aquele com que estamos publicamente em guerra, [...] nisso difere do inimigo privado, que é aquele com que temos desavenças privadas” (13) Assim a leitura mais profunda de O Conceito do político fez com que Sérgio Buarque realizasse que décadas passadas Hans Blumenberg refletisse como a primeira função da metaforologia: servir de auxiliar a uma história dos conceitos.
Muito embora essa função primeira fosse rapidamente absorvida por funções mais complexas, que implicam uma reflexão nada convencional sobre o papel da linguagem, é ela que nos importa, no caso da cordialidade. A cordialidade era – e, embora corroída pela experiência do cotidiano urbano, sua função social negativa continua, no momento em que escrevo, extremamente ativa – a expressão de um sentimento dominante, enquanto maneira de manter a negação de um espaço público, aquele em que a lei vigorasse igualmente para amigos e inimigos privados.

Capa de Raízes do Brasil, edição da Companhia das Letras de 1997
Imagem divulgação
Para que Blumenberg não seja referido apenas nominalmente, lembremos uma passagem de seu primeiro livro dedicado a metaforologia:
“O mundo copernicano torna-se a metáfora da privação crítica do princípio da teleologia, da causa finalis do feixe aristotélico das causae; e é indubitável que só a metáfora copernicana permitiu penetrar no pathos da desteleologização, que é sobre ela que se funda uma nova consciência de si, ligada à excentricidade cósmica do homem” (14).
Conquanto a passagem se volte exclusivamente ao papel da metáfora, referindo-se à que se processa em Copérnico, é evidente que se trata da figura como passagem para um novo conceito. Sendo bastante mais simples, o novo exemplo pertence à mesma família. Mas me parece fascinante que a metaforologia faça, entre nós, sua estreia prática pela contribuição a um aspecto importante tanto para a obra de Sérgio Buarque de Holanda, quanto de nossa formação social, ademais se associando à notável reflexão de Élisée Reclus, que não entendo por que tem se mantido oculta.

Capa da Revista do Brasil, ano 3, n. 6, 1987, número especial dedicado a Sergio Buarque de Holanda
Imagem divulgação
notas
1
FELDMAN, Luiz. Clássico por amadurecimento. Estudos sobre Raízes do Brasil. Rio de Janeiro, Topbooks, 2016.
2
É sintomático que o autor já bem compreendia que, na ordem colonial, “a primazia das conveniências particulares (dominava) sobre os interesses de ordem coletiva” (HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro, Livraria José Olympio, 1936, p. 150) e já citava Der Begriff des Politischen de Carl Schmitt, onde se encontrava a formulação latina que, na edição conclusiva, dará o fecho definitivo à dissociação entre a ordem dos interesses privados e a ordem pública, sem, entretanto, já destacá-la. Acrescente-se ainda que o Schmitt primeiramente citado é da edição de 1935, i.e., que Sérgio Buarque o terá lido um pouco antes de entregar os originais para publicação. Que disso se infere senão que a configuração definitiva do capítulo ainda se encontrava no princípio de seu processo de elaboração? O mesmo raciocínio é cabível a propósito do testemunho do naturalista norte-americano Herbert Smith. Basta ler-se o que a versão primeira do Raízes (HOLANDA, Sérgio Buarque de. Op. cit., 1936, p. 151) aproveita de Smith e contrastar-se com a forte formulação que o mesmo texto atingirá na versão definitiva (HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil, Rio de Janeiro, Livraria Jose Olympio, 5ª e definitiva edição, 1969, p. 135) para que se chegue à mesma conclusão. Entre as versões de 1936 e 1969, não temos um autor que tivesse passado de uma visão pró-ibérica e conservadora para uma democrática e politicamente avançada senão alguém que revela o caminho pelo qual amadurecerá. Para falar à maneira do Ulysses, pelas mudanças efetuadas até à versão definitiva, Sérgio Buarque lutou “por libertar sua mente da servidão de sua mente”.
3
Cf. CANDIDO, Antonio. O significado de Raízes do Brasil. In HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro, Livraria Jose Olympio, 5ª e definitiva edição, 1969, p. XI-XXII.
4
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Op. cit., 1936, p. 101.
5
FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos (1936). 3º volume. Rio de Janeiro, Livraria José Olympio, 2ª edição, 1951, p. 1060.
6
Idem, ibidem, p. 1061.
7
Idem, ibidem, p. 1063.
8
Idem, ibidem, p. 1061.
9
Parece curioso, se não cômico, que dois escritores – dos quais sempre se espera um certo grau de inteligência – tenham recorrido à retórica da cordialidade em defesa de um Estado ditatorial, como indiscutivelmente foi o Estado Novo. A explicação parece trivial mas não encontro outra: como Getúlio Vargas chegara ao poder – em reação ao dirigismo do país pelas oligarquias paulista e mineira, dominante durante a República Velha – contemporaneamente à irrupção dos regimes fortes do nazi-fascismo e do comunismo, tratava-se de “convencer” a rala massa letrada do país que não havia de temer um ditatorialismo semelhante entre nós. Um bom recurso para isso consistia em recorrer ao princípio a que intérpretes que então escapavam da antropologia biológica, dominante desde Os Sertões, e ganhavam fama (Sergio Buarque e Gilberto Freyre) consideravam como havendo sido bastante praticado durante nossa formação.
10
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Op. cit., 1936, p. 156.
11
BLUMENBERG, Hans. Schiffbruch mit Zuschauer. 5ª edição. Frankfurt a.M., Suhrkamp Verlag, 1979, p. 87.
12
RECLUS, Élisée. Le Brésil et la colonization. In Revue des deux mondes, 1862, tomo 40, p. 384-389.
13
No original: “Hostis is est cum quo publico bellum habemus [...] in quo ab inimico differt, qui est is, quocum habemus privata odia”. SCHMITT, Carl. Der Begriff des Politischen (1933). Berlim, Duncker & Humblot, 1963, nota 5, p. 29. Chame-se a atenção para um dado só aparentemente insignificante: na versão original, Holanda citava Der Begriff des Politischen, na edição de 1935, ao passo que, em 1969, remete a passagem à edição original de 1933. O que vale dizer, em sua primeira leitura, embora já atinasse para a “tão malsinada primazia das conveniências particulares sobre os interesses de ordem coletiva” (HOLANDA, Sérgio Buarque de. Op. cit., 1936, p. 150), o reconhecimento da importância da diferença dos espaços ainda não era relacionado à metáfora da cordialidade. Será apenas com o amadurecimento intelectual do historiador que sua obra de estreia permitirá a aproximação que aqui se estabelece.
14
BLUMENBERG, Hans. Paradigmen zu einer Metaphorologie. Frankfurt a.M., Suhrkamp Verlag, 1998, p. 146.
sobre o autor
Luiz Costa Lima (São Luís do Maranhão, 1937) é professor emérito da PUC-RJ. Em 2004, recebeu da Alexander von Humboldt-Stiftung (Alemanha) o prêmio de pesquisador estrangeiro do ano, na área de humanidades. Em 2011, a Universidade de Queensland (Austrália) realizou o colóquio “Mimesis and culture”, dedicado à sua obra. Seu livro O controle do imaginário e a afirmação do romance (2009) recebeu os prêmios de Ensaio da Biblioteca Nacional e da Academia Brasileira de Letras.



![Sérgio Buarque de Holanda em Berlim, 1929<br />Foto divulgação [<i>Revista do Brasil</i>, ano 3, n. 6, 1987]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/35f862389622_sbh01_berlim.jpg)
![Sérgio Buarque de Holanda em Berlim, 1929<br />Foto divulgação [<i>Revista do Brasil</i>, ano 3, n. 6, 1987]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/35f862389622_sbh01_berlim.jpg)