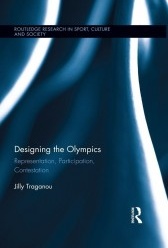O livro de Jilly Traganou chegou em boa hora. Com o encerramento dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, parece ter se encerrado junto todo um ciclo de investimentos que não trouxeram ao Brasil o desenvolvimento desejado. Esta percepção já era forte ao final da Copa do Mundo de 2014, realizada em 21 capitais cujos cidadãos, ao final do espetáculo, se perguntaram: o que fazer com esses estádios? Dois anos depois, ao apagar as luzes olímpicas, essa percepção se faz ainda mais forte com o aprofundamento da recessão, com recordes de desemprego e violência, esses sim, verdadeiramente olímpicos! O livro de Jilly Traganou não poderia ser mais oportuno. Dividido em três partes – representação, participação e contestação – ele nos permite um recuo no tempo e no espaço – para tensionar algumas questões, provocar o debate e, quem sabe, encontrar criar um caminhos para sair dos atuais impasses.
O livro é o resultado de 12 anos de pesquisa de Jilly Traganou, um trabalho iniciado com uma participação sua nos Jogos realizados em Atenas em 2004 e que rendeu desdobramentos, com pesquisas de campo realizadas nos Jogos de Pequim 2008 e Londres 2012, além do estudo de material do programa de design da edição de Tóquio de 1964 . Esse vasto material é cuidadosamente analisado a partir da premissa da autora de encarar as Olimpíadas como um vasto ambiente de/para o design – a “broader design milieu”. Para isso, Jilly se baseia no conceito de Product Milieu, cunhado pelo historiador do design Victor Margolin. Com o intuito de confrontar os limites profissionais no design e em reconhecer a maneira como todos, não apenas os designers de profissão, contribuem para o design, ele difere o “milieu” do produto em três diferentes domínios de ação social: instituições de estado e cívicas, mercado e design independente. Jilly retraça um pouco da história do conceito: em termos de funções, (de reforço das identidades das nações que de tão nacionalista chega a desenhar um protofascismo até, no sentido completamente oposto, de estímulo ao internacionalismo no mundo) e em termos de formas (de um ritual moderno a um modelo global de urbanidade tal como ficou bem evidenciado aqui no Rio de Janeiro). Em todo caso, deixemo-nos guiar pelos três eixos apresentados pela autora, todos eles extensa e intensamente atravessados pelo design – ou melhor, por diferentes níveis de atuações e interações com design – antes de vislumbrar algumas linhas para sair dos impasses em que nos encontramos.
Representação

Jogos Olímpicos Rio 2016, arena de vôlei de praia, Copacabana, Rio de Janeiro
Foto divulgação [Website oficial Jogos Olímpicos Rio 2016]
O tema da representação é tratado na primeira parte do livro através da análise do programa de design dos Jogos Olímpicos de Tóquio 1964 e, portanto, através das lentes do design gráfico. Constantemente, os Jogos Olímpicos nos colocam diante do desafio de como representar a identidade da nação acolhedora do evento sem deixar de lado sua articulação com os outros países participantes. Vem à tona o nacionalismo mas também o internacionalismo. Antes de analisar a logomarca dos Jogos Olímpicos de Tóquio 1964, Jilly apresenta o Japão do pós-guerra com sua necessidade urgente de reconstrução econômica e, sobretudo, de readmissão na comunidade internacional. Esse desejo de reinserção vai encontrar na linguagem moderna do design, aqui caracterizada como redutora do político em prol do econômico, o seu caminho. Os designers envolvidos no programa, sob supervisão do crítico Katsumi Masaru, defenderam um internacionalismo fundado nos princípios do modernismo e a vencedora do concurso foi a composição vertical, simétrica e despojada de qualquer ornamento do designer Yusaku Kamekura.
Contudo, tal forma modernista não é totalmente desprovida de referências ao passado do Japão e, portanto, o conjunto apresenta uma forte dialética entre tradição e modernidade. A tradição vem da influência dos símbolos dos emblemas militares de clãs medievais enquanto a modernidade está representada na forma pura do círculo vermelho presente na bandeira japonesa que retorna à circulação em sua articulação com os cinco anéis olímpicos, recuperando então a dignidade perdida com sua participação na 2aGuerra Mundial. Aqui fica bem ilustrada a dialética entre o nacional e o universal, já citada anteriormente. O círculo vermelho é o sol que requer a atenção do atleta pronto a competir no Japão e é também o sol que se levanta para todos no mundo inteiro.
O universalismo também ganhou uma fortíssima expressão com os pictogramas desenhados para Tóquio 1964 por Yamashita Yoshirô na equipe de Katsumi Masaru. A influência dessa abordagem sistêmica do design chegou ao conhecimento de Otl Aicher, um dos fundadores da HfD Ulm que desenvolveu, por sua vez, o programa de design de Munique 1972. Em comum, os designs de Tóquio e de Munique tinham como ambição a de superar barreiras de nação e raça, direcionando-se, assim, para uma “aldeia global” que seria capaz de compreendê-las e a expressão dessa ambição se dava por meio de uma abordagem sistêmica. A “imagem total” que dela emergia era, para os designers com ela comprometidos, a afirmação de democracia, isto é, um sistema imagético aberto à participação e de livre recepção do público e não uma imposição totalitária de uma imagem.

Jogos Olímpicos Rio 2016, arena para vela, Marina da Glória, Rio de Janeiro
Foto divulgação [Website oficial Jogos Olímpicos Rio 2016]
Ora, essa crença foi, aos poucos, se desfazendo pelas próprias contradições. Em parte porque seus ideais humanistas foram abalados pelo intenso uso da abordagem sistêmica pelas grandes corporações e seus interesses econômicos. E, por outro lado, pela percepção de que a própria idéia de universalismo e, em particular, a de um “homem universal” é eurocêntrica e etnocêntrica. Ela é, portanto, excludente. Se o encontro de Katsumi e Aicher no World Design Conference de 1960 gerou alguns dos frutos mais maduros do design moderno, em 1972 ele já dava sinais de esgotamento. Com efeito, neste mesmo ano, o programa de design dos Jogos de Inverno de Sapporo, sempre supervisionado por Katsumi, incorporava elementos não-modernos, pré-modernos e autóctones. Esse percurso de Jilly por entre os programas de design dos jogos olímpicos nos ajudam a perceber o quanto a linguagem modernista foi tensionada por linhas de conflitos temporais (entre a tradição e a modernidade) e de conflitos espaciais (entre o local e o global) num determinado contexto histórico e geográfico. A maestria do design de Tóquio 1964 foi sua capacidade de conciliá-los em uma forma que soube expressar os ideais do universalismo tão necessários àquele momento do pós-guerra sem deixar de expressar a cultura local.
Não é o objetivo aqui traçar qualquer análise comparativa entre esses programas de design e o que foi desenvolvido para o Rio 2016. Nos contentemos com algumas linhas antes de avançar em direção à segunda parte do livro de Traganou. Em linhas gerais e em termos formais, a marca Rio 2016 é reconhecida em parte como representação de uma nação ou identidade nacional mas, principalmente, como um retrato do Rio de Janeiro: as formas arredondadas, as cores vivas e até a opção por uma marca escultural (em três dimensões) remetem-na diretamente à paisagem carioca. E, em termos de discurso, podemos dizer que a ideia de universalismo desapareceu quase que por completo. No site da Tátil Design, encontramos a descrição do projeto colaborativo de criação que resultou em “uma marca humana, feita da mistura de povos, atletas e culturas. Uma marca que acolhe com um abraço e tem um jeito apaixonante de celebrar. Uma forma que revela o Pão de Açúcar e é espelho vivo da natureza exuberante do carioca e da cidade” (1).
O segundo capítulo avança no tempo. Deixamos os anos 60 e 70 para trás e chegamos ao século 21. Jilly analisa os complexos esportivos e as narrativas nacionalistas ligadas aos Jogos Olímpicos de Atenas 2004. Ao ler essas linhas, nos perguntamos: Jilly está mesmo falando de Atenas 2004 ou do Rio de Janeiro 2016? A pergunta se deve às inúmeras reportagens sobre a situação de total abandono dos equipamentos olímpicos na cidade apenas alguns meses depois do fim dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Mas comecemos pelos fatos ocorridos em Atenas há mais de 12 anos. Interessante salientar que, embora a questão da participação permaneça, não se trata mais do design gráfico e sim, podemos considerar, de um design de cidade: como um estádio olímpico pode representar a nação? Antes de apresentar as camadas dessa questão no que tange a arquitetura, a autora traz uma longa narrativa, cheia de percalços.

Jogos Olímpicos Rio 2016, zona olímpica de Deodoro, Rio de Janeiro
Foto divulgação [Website oficial Jogos Olímpicos Rio 2016]
Com efeito, os questionamentos sobre a obra de Santiago Calatrava, arquiteto espanhol reconhecido a nível global, começaram com sua escolha sem consulta ou concurso público, prosseguiram com os debates sobre a identidade grega e se acirraram com os custos imprevistos e extravagâncias estruturais que causavam atrasos nos prazos. A angústia dos gregos só teve fim com a finalização e instalação do “Calatrava’s roof” no Estádio Olímpico, em cima da hora. Os discursos oficiais e midiáticas transformaram então aquilo que era visto como foco de problemas e incertezas quanto à realização do evento no símbolo da capacidade grega de preparar Jogos Olímpicos perfeitos. Calatrava recuperou parcialmente sua reputação mas, ainda assim, era preciso entender o que a sua ousadia arquitetônica representava. Que identidade o Estádio Olímpico supostamente representa?
Jilly traz algumas “camadas de identidade” que podem ser apreendidas em cinco grandes narrativas ou retóricas. A primeira delas é a retórica de uma “grecidade”. Desde o início do processo de convencimento dos gregos acerca da pertinência de sua obra, Calatrava manifestou sua inspiração nos arcos da tradição bizantina dentro da arquitetura grega. Essa tentativa de associar uma raiz ou origem grega ao produto arquitetônico contemporâneo foi bastante bem acolhida; a segunda é a retórica do regionalismo. Ela foi acionada para conciliar a escolha de um arquiteto espanhol com os sentimentos nacionalistas que todo momento pré-olímpico alimenta e foi sustentada sobre um suposto “temperamento” comum a todos os povos mediterrâneos. Este temperamento comum se traduziria nas formas arcadas, na escolha de materiais como a cerâmica e sobretudo no uso do branco; a terceira das retóricas é a da europeização entendida como necessária modernização. Ela articula passado, presente e futuro, ou seja, articula a Grécia enquanto fundadora intelectual da Europa com a sua atual inclusão na comunidade européia, deixando para trás as relações com os Bálcãs e o leste europeu. Nesta retórica, a europeização tem caráter positivo; A quarta é a retórica do multiculturalismo que contrasta com o europeísmo alicerçado numa sobrevalorização dos países europeus em detrimento de outros. E, embora Calatrava recorresse a essa retórica para defender suas escolhas arquitetônicas, ela era continuamente desmentida pela realidade de uma construção cujos elementos essenciais eram fabricados nos países centrais e cuja mão de obra era composta por gregos subcontratados e por imigrantes em condições piores ainda. Evidentemente, esses problemas não ocorrem apenas nas obras do arquiteto espanhol como também nas de muitos dos starchitects que trabalham em diferentes contextos locais, com diferentes legislações trabalhistas e políticas migratórias. E, enfim, a quinta retórica é a da antiglobalizacão, oriunda em grande parte dos grupos que contestavam a grandiosidade da obra arquitetônica como um sintoma do capitalismo global e, sobretudo, da submissão da Grécia aos seus ditames.
Em suma, aqui apenas resumimos em algumas linhas os ricos debates que mobilizaram diversos setores da sociedade grega. Muitos desses debates ganharam formas espetaculares nas cerimônias de abertura e de encerramento. Jilly contrapõe a hegemonia grega na abertura com a construção de um espaço de contestação no encerramento. Nesse percurso, do início ao fim dos Jogos Olímpicos, as retóricas construídas pelo arquiteto espanhol, seus apoiadores e seus críticos, se depararam com um público muito maior do que o grego: o público global. Isso se deu por meio das narrativas midiáticas que Jilly distingue em três categorias: as da mídia mainstream nacional, as da mídia de esquerda e as da mídia estrangeira. São visões distintas de todos os valores que acompanharam a realização dos jogos mas, no apagar das luzes e, sobretudo, com a crise política e econômica grega, teve início a deterioração dos equipamentos. Eles se tornaram, desde então, símbolo de todos os aspectos negativos que podem ter os Jogos Olímpicos: falta de planejamento, ausência de legado, negligência do patrimônio e da participação pública e violação de leis. Segundo a autora, a discussão arquitetônica em torno da capacidade própria dos Jogos Olímpicos de representarem a nação distraiu a atenção sobre transformações em curso no território urbano. E aqui, vale a pena algumas considerações sobre a situação pós-olímpica no Rio de Janeiro.
Para a nossa cidade, Calatrava não projetou um estádio olímpico e sim um museu, o Museu do Amanhã. Sem nos estendermos nesse tema, colocamos, apenas, duas provocações. Em primeiro lugar, como aquelas formas que tão bem representaram diversos aspectos da cultura grega – algumas mais tradicionais e fechadas em si, outras mais abertas à região, à Europa e mesmo ao mundo inteiro – puderam, de repente, ao ancorar no Rio de Janeiro, simbolizar um barco, um pássaro ou uma planta sob a Baía da Guanabara? Em segundo lugar, questões de ordem nada simbólica ou semiótica, e sim socioeconômicas intimamente ligadas ao território urbano tais como especulação e gentrificação. O jornal O Globo vem noticiando cotidianamente o abandono do Parque Olímpico situado na Barra da Tijuca e, simultaneamente, o sucesso do Boulevard Olímpico situado na zona portuária da cidade, onde se encontram dois museus – Museu do Amanhã e Museu de Arte do Rio – dos quais a Fundação Roberto Marinho é uma das responsáveis pela concepção, realização e manutenção. Com esse contraponto, queremos indicar que os Jogos Olímpicos movem as três esferas mencionadas por Jilly – poder público, empresas e sociedade civil – mas que, apesar de estarem em constante interação, mesmo depois de passado o evento, elas não são igualmente beneficiadas, muito pelo contrário.
Participação

Jogos Olímpicos Rio 2016, Estádio de Deodoro, Rio de Janeiro
Foto divulgação [Website oficial Jogos Olímpicos Rio 2016]
Com essas questões em aberto, passamos à segunda parte do livro: participação. Mais uma vez, nesta parte, Jilly vai trazer a discussão com base em diferentes atuações do design: a primeira relacionada ao design da logomarca e de seu brand inovador e a segunda relacionada a um design da própria cidade e ao dissenso que suscitou. A marca London 2012 rodou o mundo: suas formas vigorosas e suas cores ácidas provocaram reações imediatas e foram alvo de muitos questionamentos do ponto de vista formal ao mesmo passo que, do ponto de vista conceitual, assumiam não mais representar a nação ou a cidade, e sim as pessoas. Para explicar esse design tão arrojado quanto agressivo, Jilly traz à tona o contexto londrino. Em termos econômicos, o clima que precedeu o evento olímpico era de recessão. Alguns setores viam nos JO um projeto neoliberal que aprofundaria a desigualdade enquanto outros os saudavam como possível revival da arte e da cultura britânica dos anos 80 e 90. Em termos mais específicos de design, são várias as transformações do campo: a identidade visual contemporânea não mais se restringe ao mundo corporativo expandindo-se para a marca de cidades e também de movimentos sociais, como também não mais se restringe à logomarca e torna-se brand, ou seja, algo mais extenso. Também faz-se sempre mais forte a demanda por parte do público de possibilidades de participação no processo de criação da logomarca. É este contexto no qual surge a marca Londres 2012. Nele, o co-design parece ter sido mais evocado do que efetivo desde a contratação da empresa pelo Comitê Olímpico local sem licitação.
Mal a empresa Wolff Olins foi selecionada para a criação, começaram as críticas por conta da ausência de concurso e da importância dos custos. E logo iniciaram as críticas à própria marca, tida como feia e agressiva, além de não representativa de uma identidade inglesa ou mesmo londrina. Ora, intenção da Wolff Olins foi a de produzir uma ruptura com a tradição de representação e induzir a participação na co-criação da marca capturando os criativos amadores (amateur criatives) e assim tirá-la do pódio olímpico para ocupar as ruas (off-the-podium onto-the-streets). As estratégias de participação do público se multiplicaram. Uma das mais evidentes foi o incentivo ao uso das letras que compõem a marca Londres 2012 como molduras. Inspirada na marca MTV criada nos anos 80, a marca Londres 2012 é mutável e adaptável a diferentes situações. Uma outra importante estratégia foi a oferta não exatamente de uma marca acabada e sim de um sistema aberto, tal como uma linguagem. Ora, enquanto WO propunha variações, o LOCOG as restringia continuamente. Apropriações e hackeamentos da marca foram realizadas e alguns deles indicavam a íntima relação dos Jogos Olímpicos com multinacionais capitalistas, gentrificação e militarização urbana. Ficou em evidência a tensão entre o convite à participação por parte da WO e a gestão proprietária do Comitê Olímpico. O modo corporativo de exploração da marca entrou francamente em conflito com a sua missão. Todavia, apesar desses conflitos, Jilly conclui que a marca Londres 2012 implementou um novo paradigma na medida em que se afastava de sua função de representação (da nação ou da cidade anfitriã) e procurava instigar a participação da população. No caso da marca Rio2016, a participação não esteve no foco dos designers. Este fato não lhe tira outras qualidades mas já anunciava, de certo modo, o que viria a ocorrer nas Olimpíadas cariocas: uma participação restrita ao consumo ao invés de extensiva à criação dos processos e que, quando crítica, era reprimida.
No capítulo seguinte mas ainda na parte do livro dedicada à questão da participação, Jilly se distancia do design de marca para retornar ao que denominamos “design de cidade”. Descreve por um lado, um design de poder, ou seja, um design como que de fortificação da cidade olímpica e, por outro, práticas de dissenso por meio do design. Antes de apresentar todos esses protocolos e processos, a autora faz um pequeno histórico da relação entre renovação urbana e Jogos Olímpicos. Não é por acaso que foram os nazistas os primeiros a entender o potencial de transformação urbana dos Jogos Olímpicos tendo como “motor” a ideia de “limpeza” nas suas mais variadas e terríveis acepções. Esse modelo de transformação urbana persistiu, adaptando-se evidentemente a contextos tão diferentes como o de Berlim 1936, o de cidades tentando se reerguer no pós-guerra como Roma em 1960 e Tóquio em 1964 e o de outras em busca de desenvolvimento como a Cidade do México em 1968. Já a partir de Munique 1972, as transformações urbanas mais gerais perderam importância em prol da ênfase no Parque Olímpico e de uma forte identidade visual de marca para favorecer os direitos de mídia e de patrocinadores que fecham contratos milionários pela exibição do evento e para se envolver comercialmente e expor sua própria marca nele. Além dessas instâncias serem hoje importantes financiadoras da realização do evento, ao longo dos anos, houve também outras importantes mudanças nesse aspecto das Olimpíadas tais como a redução do Estado e o aumento das parcerias público-privadas. São todas considerações que nos dão recursos para a análise da Rio 2016.

Jogos Olímpicos Rio 2016, Estádio do Engenhão, Copacabana, Rio de Janeiro
Foto divulgação [Website oficial Jogos Olímpicos Rio 2016]
Com relação ao que Jilly chama de Olympic city enforcement, os protocolos que acompanham a realização dos Jogos Olímpicos não poderiam ser mais explícitos: implementação de um Estado de Exceção no sentido de diminuição e até mesmo de suspensão de direitos individuais e sociais; desenvolvimento de uma mentalidade desenvolvimentista, que acaba servindo para justificar a enorme empreitada que envolve a realização do evento, baseado no consumo e que, sistematicamente, provoca o desmantelamento de bairros antigos e comunidades pobres, atacando covardemente as populações desses locais e seu direito à habitação; aumento da vigilância, de medidas de segurança e da militarização. No caso do Rio de Janeiro, a cidade já possuía um forte histórico de militarização da polícia e a questão da segurança pública já era comumente tratada com terminologias de táticas de guerra – ocupação, invasão e facções rivais constam de tal vocabulário – pelo poder público e meios de comunicação. Durante o período pré-olímpico, houve intensificação dessas práticas, sendo o fato mais marcante o da instalação de UPPs e a ocupação militar de várias comunidades por longo período com a narrativa de “reconquista da paz”.
A percepção e presença desse aparato de poder tão persistente ao longo da história dos Jogos Olímpicos e tão forte e duradouro aqui neste Rio de Janeiro, que também hospedou a Copa do Mundo, depara-se porém com o dissenso, continuamente. As vozes são inúmeras – são as de comunidades atingidas, de jornalistas, de ativistas e atletas e da sociedade organizada – e as formas também. Os tons também variam das ações jocosas de protesto até as formas mais aguerridas de confronto. Jilly se interessa por uma variedade de dissenso que vão das práticas padrão de design até atos de criatividade que desafiam essas fronteiras e que nós temos chamado de “estética da multidão”, isto é, formas artísticas que vão além das artes visuais e encarnam nos corpos dos manifestantes. A convivência entre elas não é evidente. Visto o papel que o design tem no seio dos Jogos Olímpicos, o ativismo desconfia dos designers sem perceber, muitas vezes, o quanto suas práticas têm de design. Uma das práticas mais comuns do dissenso é a da apropriação visto que os Jogos Olímpicos têm uma dimensão fortemente proprietária em diferentes níveis. A autora descreve então apropriações dos símbolos olímpicos (tais como os anéis, transformados em aros de arame farpado), dos slogans, dos espaços ou zonas restritas, e das identidades corporativas relacionadas aos jogos.

Jogos Olímpicos Rio 2016, Parque Olímpico da Barra, Rio de Janeiro
Foto divulgação [Website oficial Jogos Olímpicos Rio 2016]
Para além dessas ações pontuais, Jilly se estende sobre práticas sociotécnicas corporificadas de dissenso (embodied sociotechnical practices of dissent) das quais distingue dois tipos: ações disruptivas no espaço público e práticas de “habitus prefigurativo”. No caso das primeiras, a autora menciona como origem comum os protestos de Seattle e como exemplos alguns ocorridos no Canadá em 2010 em razão dos Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver naquele ano, quando o tradicional revezamento da tocha olímpica pelas cidades do país acolhedor foi subvertido no evento “The Poverty Torch Relay” que denunciava a pobreza de certas comunidades de Vancouver. No Brasil, pode-se dizer que o “apagamento” da tocha olímpica foi extremamente popular de norte a sul do país, mas que as manifestações mais criativas desse tipo haviam se dado durante a Copa do Mundo quando grandes faixas “Fuck Fifa” foram clandestinamente introduzidas nos eventos televisionados para manifestar ao mundo a insatisfação da população com a construção de estádios quando o que ela mais precisava (e continua precisando) era de hospitais e escolas “padrão Fifa. Já as segundas, são definidas pela autora como práticas que implicam um engajamento com o cotidiano como modo de dissenso político. Elas diferem portanto da ação de confronto no espaço público e, enquanto Jilly menciona o The Olympic Tent Village, poderíamos citar não apenas as inúmeras ocupações do Rio de Janeiro em plena especulação imobiliária desde o início da série de megaeventos que aqui aconteceram como, sobretudo, uma muito singular que ocorreu nas proximidades do Maracanã e que, por sua composição heterogênea de ativistas e indígenas de diversas tribos, ganhou o nome de Aldeia Maracanã. Por fim, em sua análise de práticas de dissenso, Jilly menciona a comunidade e também cooperativa Clays Lane que, após trinta anos de existência foi removida por conta da realização dos Jogos Olímpicos de Londres. Como não lembrar da nossa Vila Autódromo? Lá em Londres, a artista Adelita Husni-Bey deu início ao projeto The Clays Lane Live Archive. Aqui no Rio, ex-moradores, moradores e apoiadores seguem na construção do Museu das Remoções, memória viva da comunidade.
Contestação

Jogos Olímpicos Rio 2016, Estádio do Maracanã, Centro, Rio de Janeiro
Foto divulgação [Website oficial Jogos Olímpicos Rio 2016]
Ao final deste percurso, a autora tenta especular sobre o futuro das Olimpíadas. E se... fosse de outro modo? Desafio nada fácil depois de tão bem demonstrar a difícil coexistência, no seio dos Jogos Olímpicos, entre interesses econômicos e demandas éticas. Para imaginar cenários futuros, Jilly redesenha os modelos de contestação política e de atuação com design que emergiram de suas análises. Seriam três: o modelo de demandas que procura transformar os Jogos Olímpicos propondo mudanças; o modelo agonístico que procura projetar Jogos Olímpicos mais plurais onde não se trata apenas de corrigir erros pontuais mas de manter os processos abertos e, neste sentido, o papel do design ganha terreno; e, por fim, o modelo de grupos de afinidades que se interessa por projetar Jogos Olímpicos a partir de “políticas do ato”, com base no afeto. Em cada um desses modelos, a autora propõe diferentes atuações do/com design: no primeiro, o design tende a ser mero adjuvante da reivindicação; no segundo, o design ganha centralidade com metodologias que permitem a articulação da heterogeneidade; no terceiro, nos deparamos com formas de atuação de design em seu sentido mais expandido, naquele que particularmente denominamos “estética da multidão”. Ao final do capítulo, Jilly indaga se haveria algum tipo de reconciliação entre a representação contra hegemônica e as ditas “políticas do real”. É difícil dar uma resposta incisiva a esta pergunta sobretudo em termos de reflexão filosófica e política. Mas, talvez, no campo do design e mais especificamente, o próprio design “em campo”, ou seja, nos contextos específicos em sua localidade e globalidade, pode nos indicar caminhos, hora com uma atuação mais critical, hora mais designerly.
Em agosto do ano passado, Jilly Traganou veio ao Rio de Janeiro para acompanhar a realização dos Jogos Olímpicos na cidade. Em poucos dias aqui, coletou materiais e apresentou suas primeiras reflexões em evento no Centro Carioca de Design no evento “O ambiente do design olímpico e seu possível legado para o Rio”. Foram as reflexões esboçadas naquele momento que nos levaram a leitura do seu livro aqui resenhado na urgência de se pensar alternativas e abrir caminhos possíveis para cidades que vislumbram nos Jogos Olímpicos uma panaceia para os seus males mas que se deparam, no meio do caminho, com a incompatibilidade entre promessas econômicas e processos éticos e, no fim do mesmo, uma única certeza: o legado é a crise. Não se pode atribuir à realização dos Jogos Olímpicos a crise pela qual passa a cidade e o Estado do Rio de Janeiro, não seria correto, mas neles podemos ver um símbolo de uma série de equívocos políticos e econômicos cometidos nos últimos anos. Talvez o símbolo maior desse acúmulo de erros cujas consequências nos cabe agora enfrentar. As parcerias público-privadas tão bem descritas pela autora estão no cerne do problema. O Estado virou Empresa e, vice-versa, grupos empresariais apoderaram-se dos diferentes níveis de governo. Diante desses desafios e dilemas, o design tem importantes papéis a desempenhar: que as análises aqui reunidas nos sirvam a avaliar seus limites como também a vislumbrar as potências das práticas e pensamentos oriundas do campo do design e do design “em campo”. Obrigada Jilly!

Jogos Olímpicos Rio 2016, simulação do 14Bis de Santos Dumont na solenidade de abertura, Estádio do Maracanã, Centro, Rio de Janeiro
Foto divulgação [Website oficial Jogos Olímpicos Rio 2016]
nota
Rio 2016: Marca Olímpica – projeto dos sonhos. Tátil Design <http://tatil.com.br/pb/projetos/rio-2016/>.
sobre as autoras
Ana Helena Teixeira Mendes da Fonseca possui graduação em Desenho Industrial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e é Mestre em Design pelo Programa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro com a dissertação intitulada “Rio de Janeiro: de Cidade Maravilhosa à Cidade Olímpica – Análise da construção de representações” de 2014.
Barbara Szaniecki é Professora Adjunta na Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem Mestrado e Doutorado em Design pela PUC-Rio. É autora dos livros Estética da multidão (editora Civilização Brasileira, 2007) e Disforme contemporâneo: outros monstros possíveis (editora Annablume, 2014).



![Jogos Olímpicos Rio 2016, Estádio do Maracanã, Centro, Rio de Janeiro<br />Foto divulgação [Website oficial Jogos Olímpicos Rio 2016]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/619a28f4336e_rioolimpico01.jpg)
![Jogos Olímpicos Rio 2016, Estádio do Maracanã, Centro, Rio de Janeiro<br />Foto divulgação [Website oficial Jogos Olímpicos Rio 2016]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/619a28f4336e_rioolimpico01.jpg)