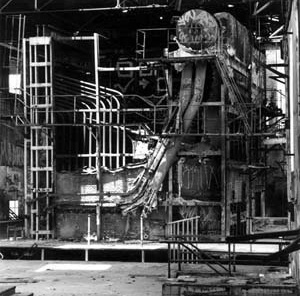A pergunta pela origem e começo de todas as coisas, pelo novo e a novidade, parece que vem cedendo lugar, já há algum tempo, à pergunta pelo seu desaparecimento, fim ou morte. No que se refere à pergunta sobre a origem, neste caso da arquitetura, basta lembrar o título do influente livro de Nicolau Pevsner As origens da arquitetura moderna e do desenho, ou ainda Leonardo Benevolo que, na introdução de sua obra Historia da cidade, diz: “este livro mantém um fio condutor único, isto é, o nascimento e as transformações do ambiente urbano na Europa e no Oriente Próximo” (2).
Contudo, são encontrados, no debate cultural contemporâneo cada vez mais autores que se referem à morte da arte, à morte de Deus, ao fim da metafísica, à decadência, ocaso ou declínio do Ocidente, à morte do sujeito, ao fim da modernidade e da poshistorie e ao fim da história. No debate sobre a arquitetura e o urbanismo, é possível citar, por exemplo, Peter Eisenmann com sua obra O fim do clássico, e, no Brasil, Otilia Arantes com Urbanismo em fim de linha.
A expressão fim da história pode ser interpretada como o resultado de uma catástrofe atômica e o conseqüente fim da vida humana sobre a terra, fato que, apesar de ser plausível e preocupante e de estar intimamente vinculado a esta visão de fim, não é neste sentido que vem sendo utilizado nem é nele que me deterei aqui. Assim, o quanto antes, quero evitar qualquer tom apocalíptico e catastrófico ao termo fim, já que estamos todos, em um momento em que tão ameaçadoramente se reitera o termo “morte” quanto ao porvir do que se tem entendido por civilização, sob a ameaça de uma espécie de crise ecológica, que coloca em risco não apenas a vida humana, mas de toda vida a em geral. Não quero dar, assim, um tom agourento a este meu interesse pelo fim que parece, à primeira vista, condenar o futuro.
O termo fim não é entendido, na expressão fim da história, como a interrupção ou cessação definitiva da vida humana; nem tem o sentido de meta, objetivo, finalidade ou propósito. O termo fim tem aqui o sentido de momento ou ponto em que se interrompe e cessa um fenômeno, um período, fim como conclusão, acabamento, desfecho, encerramento.
Assim, o discurso sobre o fim da história não se refere ao fim do mundo, mas ao fim de um significado, de um sentido, de uma episteme.
Desde o final do século XIX, a modernidade e seus ideais, como a supremacia da cultura ocidental, o triunfo da razão, a idéia de progresso, a teleologia da história, entre muitos outros, vêm sendo colocados em tela de juízo. As novas condições de vida do mundo industrial tardio impuseram, para reflexão, problemas que resultaram em uma atitude que colocou em questão a herança do pensamento europeu.
E é justamente no panorama cultural europeu da segunda metade do século XX que surgiram as reflexões sobre a “pós-modernidade” e, dentro desta, a da poshistorie, conceito introduzido na terminologia da cultura por Arnold Gehlen, nos anos 50. Dentro da leitura que deste autor realiza Vattimo, poshistorie indica a condição em que “o progresso se converte em routine”, o que significa dizer que a capacidade humana de dispor tecnicamente da natureza se intensificou, e ainda continua intensificando-se. Na sociedade de consumo, a renovação contínua (das roupas, dos utensílios, dos edifícios) é fisiologicamente exigida para assegurar a pura e simples sobrevivência do sistema; a novidade nada tem de “revolucionário”, nem de perturbador, senão aquilo que permite que as coisas marchem da mesma maneira (3).
A expressão fim da história vem sendo utilizada nos últimos tempos pelos defensores das teorias econômicas neoliberais e neoconservadoras, com grande repercussão, por exemplo, por Francis Fukuyama. Em The End of History?, a tese deste famoso artigo está baseada em uma reelaboração da teoria de Hegel de que o mundo germânico e as instituições que compreendem o Estado europeu moderno representam a concretização da liberdade, e que os princípios do Estado liberal são insuperáveis como sistema. A expressão “fim da história”, do ponto de vista filosófico, designa, para este autor, a derrocada da filosofia da historia à maneira de Hegel e de Marx.
Uma filosofia da história pode ser entendida como qualquer concepção filosófica que sustente que a história obedece a um sentido (sentido quer dizer, ao mesmo tempo, significação e direção) ou até a uma intenção. É uma reflexão sobre a natureza da história ou sobre o pensamento histórico. A expressão foi usada no século XVIII (por Voltaire, por exemplo) para se referir ao pensamento histórico crítico, que se opunha à mera coleção e repetição de histórias sobre o passado. Acreditava-se, no Iluminismo, que a época da superstição e da barbárie seria progressivamente substituída pela ciência, razão e compreensão. Ganhava assim a história, uma linha evolutiva de caráter moral. Esta concepção transforma-se, posteriormente, na busca de um sistema grandioso sobre o desdobramento da evolução da racionalidade, que seria testemunhado em suas fases sucessivas de progresso. Dito isso, consideramos que aqui se faz necessário, e perdoe-nos o leitor, um breve resumo de páginas muito conhecidas.
Assim, pode-se encontrar, tanto em Hegel como em Marx, uma filosofia da história (guardadas todas as diferenças) segundo a qual a história segue uma temporalidade linear, orientada por um sentido a partir do qual se realiza, progressivamente, a racionalidade universal. De acordo com esta concepção, a seqüência dos acontecimentos segue um movimento determinado e se realiza segundo certas grandes linhas de forças. Esta seqüência não é, portanto, nem casual nem incoerente.
A importância de conhecer o passado não é por este possibilitar uma previsão para o futuro, mas, ao menos, por indicar um sentido ou uma direção e saber se a história do mundo se desenrola no sentido de um aperfeiçoamento ou de uma decadência moral e cultural. O interesse lógico e político nesses autores consiste em saber se a história se orienta na direção do capitalismo ou de certa forma de socialismo.
Surgem daí, as duas doutrinas, que, como se sabe, foram denominadas de idealismo histórico, representado por Hegel, e materialismo histórico, criado por Marx e Engels. Para a primeira doutrina, a razão vai-se realizando através do devir seqüencial dos acontecimentos, e a história universal é a representação do espírito em seu esforço para adquirir o saber daquilo que é. Hegel sintetiza o pensamento de diversos autores do denominado idealismo alemão ao conceber que a história tem um enredo. Este consiste no enredo moral do homem, concebido como algo que é equivalente à liberdade no Estado.
Emerge, com Marx e Engels, um tipo de história que, apesar de estar baseada na estrutura progressiva de Hegel, remete à realização de um objetivo para um futuro onde surgirão as condições políticas para a liberdade. Nesta concepção, os fatores políticos e econômicos, e não a “razão”, constituem o motor da história. Para esta segunda doutrina, as forças materiais, e como se sabe, especialmente as econômicas, imperam e moldam as forças espirituais, quer dizer, os pensamentos, as idéias políticas, a arte, a religião, etc. Hegel é criticado por Marx e Engels por assegurar que o espírito é o motor da história, pois, para estes autores, o espírito é o seu produto. O processo histórico, para eles, é determinado por causas antecedentes, em ultima instância, econômicas e pelas relações sociais que os homens estabelecem e que se irão desenvolvendo de modo dialético para culminar, necessariamente, em uma sociedade sem classes.
Mas se tem afirmado que, a reboque do enfraquecimento e declínio das grandes visões – denominadas também de grandes relatos – filosóficas, políticas e religiosas do mundo, como as de Hegel e Marx, vai junto o mito do progresso e da emancipação da humanidade. Estes grandes relatos pretendiam explicar todos os aspectos da realidade e legitimavam os sistemas de valores característicos da modernidade.
Assim, tendo esses pensamentos como base, o fim da historia, para Fukuyama, está vinculado à evolução ideológica que tem como ponto de chegada, no final do século XX, o triunfo da democracia liberal ocidental sobre todos os seus concorrentes, existindo, atualmente, um consenso ideológico, no mundo todo, segundo este autor, quanto a sua viabilidade e legitimidade. Fukuyama afirma que o fim da história era, para Hegel, o estado liberal e, para Marx, a sociedade comunista. Com efeito, no século XIX, com Hegel, chega-se a uma filosofia da história que desde o século XVII, se gestava e que segue sendo uma das bases – saiba-se ou não, queira-se ou não – da cultura atual.
A interpretação crítica que Perry Anderson faz das idéias de Fukuyama (a quem estou resumindo muito por alto) na introdução de sua obra, O fim da história: de Hegel a Fukuyama (4), pode ser sintetizada nas seguintes afirmações: para Fukuyama, a democracia capitalista é a descoberta da forma final da liberdade, que conduz a história a um fim e isto significa, acima de tudo, o fim do socialismo (5). Nesse panorama, o fim da historia corre o risco de ser, segundo Fukuyama, ”[...] ‘uma época muito triste’, quando o tempo dos grandes empreendimentos e das lutas heróicas torna-se coisa do passado”. Ele diz ainda que “O fim da história não é a chegada de um sistema perfeito, mas a eliminação de quaisquer alternativas melhores para ele” (6).
Anderson ainda nos fala sobre o campo de intuições e especulações em que surge o tema da poshistorie, ou do fim da história, em meados do século XX na Europa, como dito anteriormente, no seio de um grupo de teóricos que, apesar de todas as diferenças de ponto de vista, compartilharam um sentimento e uma experiência histórica comuns. E, apesar de serem ativistas ou simpatizantes dos partidos e movimentos do período do entreguerras, compartilharam as mesmas esperanças iniciais de uma subversão radical da ordem social estabelecida resultando, porém, no desapontamento e no ceticismo acerca da possibilidade de uma nova mudança histórica.
Essa situação, analisada por muitos ângulos, segundo Anderson, formou a visão de “[...] um mundo atolado, exausto, dominado por mecanismos periodicamente ressurgentes de burocracia e circuitos ubíquos de produtos, aliviado apenas pelas extravagâncias de um imaginário fantástico e sem limites, porque desprovido de poder. Na sociedade pós-histórica, os governantes deixaram de governar, mas os escravos continuam escravos” (7). Para este autor, o otimismo do progresso deu lugar a um pessimismo cultural elitista (pois pouca consideração houve com o destino da maioria faminta da humanidade, fora da zona de privilégio industrial) decorrente de uma petrificação e massificação nas democracias ocidentais depois da Segunda Guerra (8).
Assim, esta concepção do fim da história apenas se torna inteligível se for levada em consideração a tradição filosófica européia que, durante os séculos XVIII e XIX, elaborou teorias otimistas da história que tinham como meta o progresso humano em direção à paz, à liberdade e à fraternidade universal, como anteriormente vista. Tal concepção vem de uma versão secularizada da teleologia cristã, em que a história aparece como a história da salvação. Na versão secular, os conceitos de história e progresso se vinculam, basicamente, a esta visão do futuro. E o futuro passa a ser o principal conteúdo do pensamento histórico na crença de que há de se criar uma “nova terra e um novo céu”, e este é o fim derradeiro, esta é a meta, este é o telos. Nesta concepção, a humanidade caminha, de modo progressivo, para a realização desse objetivo final, configurando-se assim a idéia de uma história universal.
Mas já se disse que o homem vive hoje imerso em um mundo que não mais lhe permite construir um quadro de referências, que o induz, assim, a fragmentar os fatos e acontecimentos e, ao mesmo tempo em que lhe permite observá-los de vários ângulos, o impede de se referir a uma totalidade que lhe dê sentido, pois o que ele vê é o surgimento da multiplicidade dos horizontes de sentido.
Parece-me que, especificamente dentro da cultura arquitetônica e urbanística, pensar o fim da história é pensar o fim de uma episteme, que assentou as bases de um pensar e um fazer racional e técnico da arquitetura e do urbanismo moderno, em que as idéias de evolução, progresso e avanço técnico eram o fundamento.
O arquiteto e urbanista moderno recebeu dos historiadores, e aqui lembremo-nos de Benevolo, Zevi, Pevsner e Giedion, entre outros, uma visão teleológica da história, pela qual a história teria uma finalidade, um ponto de chegada, um propósito. A concepção destes autores convergia, assim para a seguinte conclusão: desde o barroco, passando pela revolução industrial até chegar às vanguardas artísticas do final do século XIX e início do XX, havia-se estabelecido um processo de inspiração, de iluminação e esclarecimento da verdade e da beleza definitivas; e ocorreu o surgimento de uma nova sensibilidade na arte, na arquitetura e no urbanismo que alcançava sua mais perfeita configuração naquele presente momento, no chamado ‘Movimento Moderno’, que surgia anunciando a aurora de uma nova civilização. Neste sentido, é paradigmática a produção de Le Corbusier, e, no Brasil, a de Gregori Warchavchik, Lucio Costa e Oscar Niemeyer. Esta perspectiva ou visão da história ao unir-se à nova teoria arquitetônica, dá a credibilidade, a certeza e a legitimidade aos novos princípios defendidos. Entre esses princípios, ressaltam o do progresso e o da racionalidade técnica que, de modo indissociável, deveriam fundamentar a prática arquitetônica e urbanística. Assim sendo, parece-me exemplar a produção de Le Corbusier, aqui destacada por sua grande influência, e sobre sua posição, diz Argan em Arte Moderna:
“O horizonte é o mundo, mas o centro da cultura mundial, para Le Corbusier continua a ser a França. Considera a sociedade fundamentalmente sadia, e sua ligação com a natureza originária e ineliminável; o urbanista-arquiteto tem o dever de fornecer à sociedade uma condição natural e ao mesmo tempo racional de existência, mas sem deter o desenvolvimento tecnológico, pois o destino natural da sociedade é o progresso” (9).
Mas essa visão da história pode levar ao seguinte corolário: o aperfeiçoamento da razão se realiza pelo progresso das civilizações, que vão das mais atrasadas (também chamadas “primitivas” ou “selvagens”) às mais adiantadas e perfeitas (as da Europa ocidental). Nos autores citados, a idéia de progresso e avanço tecnológico leva às categorias do novo e da superação, que eram o fio condutor de suas construções históricas e teóricas. O barroco, o ecletismo, a art-nouveau, o arts and crafts, entre outras manifestações, são vistos como uma preparação do que, de fato, seria a verdadeira e nova arquitetura. O mesmo se poderia dizer das cidades, a cidade feudal, a renascentista, a barroca e a cidade burguesa são momentos do desenvolvimento que vão levar à cidade moderna.
A produção da arquitetura e da cidade caminham, assim, em um sentido progressivo, evolutivo; um “novo estilo” vai superando o anterior até seu corolário que seria a arquitetura e o urbanismo do “Movimento Moderno”, em que se dissiparia uma certa obscuridade e se converteriam os erros encontrados no passado e na tradição em conhecimentos e acertos.
A história tal como elaborada pelos autores acima citados constituiu-se em mais do que suporte para o “Movimento Moderno”, foi, em grande medida, instrumento para legitimar a produção daquele momento. No passado, encontrava-se a origem de técnicas e linguagens que desembocariam, de modo muito mais desenvolvidas, naquele presente.
Esses conceitos e essas idéias, em meu juízo, fundamentaram a leitura, a interpretação e o discurso, que predominaram por décadas sobre a produção arquitetônica e urbanística européia e que marcaram a cultura historiográfica da arquitetura e do urbanismo do século XX no Brasil, trazendo a idéia de história total, a idéia de progresso e a idéia de avanço técnico. Estas são as coordenadas conceituais que assomam do trabalho desses destacados historiadores anteriormente citados, bem como de seus seguidores, como, por exemplo, Yves Bruand, no Brasil, cujas obras servem de bibliografia básica nos cursos de arquitetura e urbanismo. São autores que se baseiam em uma concepção da história de caráter teleológico e totalizador da unidade final dos fatos históricos, e a partir da qual elaboram suas grandes sínteses. Nesta concepção de história, há uma crença no avanço técnico como o motor que guiará o caminho da humanidade no sentido de uma emancipação e um progresso crescentes, cabendo à arquitetura e ao urbanismo um papel de destaque.
O aspecto principal dessa racionalidade técnica é, justamente, a eficiência. Esta eficiência significa realizar a análise cuidadosa das necessidades de espaços arquitetônicos e urbanísticos da sociedade e averiguar as possibilidades materiais de solucioná-las através da mediação entre necessidades e recursos técnicos, buscando expressar o “espírito do tempo”. É certo também que valores como solidariedade, igualdade e justiça, como princípios da convivência coletiva nas cidades, podem ser encontrados em parte da literatura dessa época.
Mas foi nesse ambiente cultural e, especialmente, na Alemanha da República de Weimar, que surgiram as reflexões que apontavam, de modo inquietante, os aspectos negativos que começavam a surgir na denominada civilização européia, tais como a desumanização da vida urbana moderna, e os aspectos trágicos que poderiam advir da relação cultura e técnica. Também nesse ambiente, iriam surgir as visões pessimistas em relação à sociedade técnico-industrial. E talvez se possa encontrar em Giedion uma certa ambigüidade ou conflito em relação a esses aspectos, que mereceriam um estudo mais aprofundado.
Mas, de modo geral e em grandes traços, a confiança no progresso era a base de uma concepção segundo a qual a história se encaminhava para um ponto onde os conflitos e as contradições acabariam por se resolver, num percurso que iria da revolução industrial, num desenvolvimento continuo, e chegaria até o presente. Este pode configurar, em grandes traços, o modo da historiografia do ‘Movimento Moderno’ e seu papel legitimador, que estruturou grande parte desta produção, mas, que entra em crise, na cultura arquitetônica e urbanística, a partir dos anos 50-60. Desse modo, destacaram-se o Team X, Louis Khan, os situacionistas, entre outros, que, junto às idéias vindas da antropologia, da história critica, da fenomenologia e de outras correntes do pensamento, contribuíram para o desmonte de um modo de pensar a arquitetura e a cidade. Nesta revisão crítica talvez se possa citar novamente Lucio Costa e Oscar Niemeyer, cujas obras e escritos já apontam, de certo modo, também a partir desta época, para um certo distanciamento, e creio que esta aparente ambigüidade mereceria um estudo mais aprofundado.
Como se sabe, essas idéias e conceitos vêm sendo submetidos, no campo da filosofia, desde o final do século XIX e inicio do XX, a uma revisão critica, quando se apontaram o caráter ideológico ou enganador dessas idéias e os aspectos inquietantes e trágicos das relações entre cultura e técnica/tecnologia/progresso e, por conseguinte, dessas relações com a arquitetura, o urbanismo e o planejamento. Esta visão da historia vem sendo colocada em questão porque a idéia de progresso vem sendo contundentemente rechaçada, desde que se começou a perguntar: progredir até onde? E a que preço? A serena confiança na idéia de história como progresso, que se encontra nas bases do pensamento iluminista, começa a ser questionada, ganha novas proporções diante da possibilidade atual da criação de uma total tecnificação da existência mediante a técnica da informática e da plena automatização. Tudo isso se configurou ainda na chamada era atômica e, neste sentido, cabe também perguntar: aonde o chamado progresso ainda nos levará?
Walter Benjamin, na Tese XIII de seu texto Teses sobre a filosofia da história, afirma que o progresso, tal como ele se configurou para os social-democratas, tinha a seguinte característica: a humanidade iria progredir infinitamente, no sentido de uma infindável capacidade de aperfeiçoamento que avançaria por si mesmo. Mas isto leva a uma concepção do tempo como algo homogêneo e vazio (10). E adverte na Tese XIV: “A história é objeto de uma construção, que tem lugar não no tempo vazio e homogêneo, mas no repleno de atualidade” (11).
A partir de todas essas criticas elaboradas pelos mais diversos autores, afirmou-se, então, que é ilusório pensar que existe um ponto de vista supremo, compreensivo – o da História –, capaz de unificar todos os demais, que englobaria a história da arte, da arquitetura, da cidade, enfim, de todas as manifestações e atividades humanas. Mas esta idéia de história, como um grande relato parece ter chegado a seu fim. Estas críticas e revisões configuraram-se no que se pode chamar, sinteticamente, de ‘a crise da história e do humanismo progressista’, chegando à contemporaneidade como o tão discutido fim da história, também no marco da discussão sobre o fim das utopias. E, no que se refere ao urbanismo, seria possível dizer-se que também é a crise do urbanismo progressista e o fim da idéia de planificação global da cidade.
A idéia mesma de história implica a origem e o desenvolvimento de qualquer coisa, mas parece haver um erro quando se confunde história e teleologia. Há que se pensar que a idéia de história não implica nela mesma a idéia de história como progresso linear, homogêneo e universal que segue até uma meta, ou o cumprimento de um significado racionalmente compreensível, como se houvesse leis internas ocultas, de sentido preestabelecido, com respeito às quais os indivíduos não passam de meros instrumentos.
Cabe aqui outra pergunta: quem tem escrito a história? Walter Benjamin ressalta, em Teses sobre filosofia da historia, o caráter ideológico da história e afirma que, apenas do ponto de vista dos vencedores, o processo histórico aparece como um curso unitário dotado de coerência e racionalidade, e diz na Tese VII:
“Afinal, com quem se identifica o historiador do historicismo? A inelutável resposta é: com o vencedor. Os dominadores num certo momento histórico são, no entanto, os herdeiros de todos aqueles que alguma vez já venceram. Assim sendo, a identificação com o vencedor acaba toda vez beneficiando o detentor do poder. Com isso já se disse o suficiente para o materialismo histórico. Quem até esta data sempre obteve a vitória participa da grande marcha triunfal que o dominador de hoje celebra por cima daqueles que hoje estão atirados no chão” (12).
Assim, segundo Benjamin, a história vem sendo escrita a partir do ponto de vista dos vencedores, que não pode ser compartilhado com os vencidos, pois suas lutas e sofrimentos foram suprimidos desses relatos e da memória coletiva, e apenas conservam aquilo que convém na formação de uma imagem que legitima a posição e o poder dos vencedores.
Os grandes relatos que buscavam uma explicação total vêm cedendo lugar ao que se chama “micro-historias”, as leituras transversais, as leituras através de fendas, sulcos, dobras e de pequenos espaços ainda inexplorados, cujo objetivo é a busca de outra compreensão, e nas quais os elementos subjetivos e casuais ganham maior importância. A diferença, a desordem e a multiplicidade do que se chama a realidade parecem constituir o ponto de partida de destacadas vertentes do pensamento contemporâneo. Os dados iniciais que servem como base para a explicação histórica, dificilmente podem propiciar um retorno às origens ou ser capazes de reconstituir a trama originária, como defende Paul Veyne (13), pois, se a tarefa da historia já não é a dos grandes relatos, ela é escrita a partir de nossa intenção e da intriga que servem de guia às pesquisas, estabelecendo assim a organização dos instrumentos e documentos no sentido de decifrar a trama dos fatos. Parece que os fatos e as coisas não são mais do que o entrelaçamento de suas relações e dos fluxos que se cruzam em um evento. Assim, o conhecimento a que podemos ascender dependerá do número de fluxos que se podem entrecruzar. Por baixo dos fatos, não há mais uma estrutura profunda que se oculta por trás das aparências e da imagem e na qual se deveria buscar sua verdade.
Assim, parece – e esta é minha hipótese – que, entre as idéias urbanísticas que surgiram no panorama cultural do debate sobre o fim da história, destacam-se, principalmente, aquelas ligadas ao fim da idéia de planificação total, que está relacionada ao fim dos grandes relatos e da desilusão de um avanço progressivo da sociedade em direção à liberdade e à igualdade. Disso decorreu, em certa medida, o descrédito também do planejamento urbano e o surgimento da idéia de que nada, ou quase nada, se poderia fazer em favor de uma vida mais humanizada, democrática e justa nos centros urbanos e da conseqüente ineficácia, ou até inutilidade, de qualquer planejamento e projeto. Já outras idéias urbanísticas, filiadas às idéias de descontinuidade histórica e da micro-história, buscam as intervenções urbanas pontuais, modestas, pouco prospectivas, como se já não fosse possível estender para toda a cidade, determinados benefícios trazidos pelo planejamento urbano.
Uma vez que o passado já não é mais um acervo de erros ou desgraças, o futuro também vai perdendo sua qualidade de paraíso onde todos os conflitos e contradições serão superados. Já não existe mais meta, não há mais um telos, e o futuro tem sido pintado com cores cada vez mais escuras. Basta pensar na superpopulação, na guerra, no número crescente de pessoas excluídas e marginalizadas, nos graves problemas ambientais, nas periferias das grandes cidades, na violência urbana etc., etc. Quem ainda pode defender aquela idéia de desenvolvimento e progresso indefinidos? Parece que já vivemos hoje o ocaso do futuro, pois o futuro serviu de álibi, era a eternidade secularizada, e, se a salvação religiosa estava no mais além, a secular estava no mais adiante.
Neste aqui e agora do presente, que podemos fazer? Nesta situação, decidir por um “nada podemos fazer” pode representar um niilismo político cômodo.
Na década de 60, do século passado, Lewis Munford já menciona, em sua obra A cidade na história, a possibilidade de uma sociedade urbana que teria sua configuração determinada pela total mecanização e destinada ao “Homem Pós-Histórico”, e alerta para o elenco de aspectos negativos que isto acarretaria. Se esta previsão ainda não se realizou de todo, o fato é que a grande cidade se converteu em algo indefinido e desbordante que anda de mãos dadas com o niilismo especulativo, que muitas vezes a transforma em espetáculo e parque temático, e onde apenas os denominados “microlugares” ganham algum sentido.
Nesse panorama, a expressão ‘fim da história’ passou também a significar a elaboração de um novo modo de pensar, no qual prevalece uma episteme que se caracteriza pela idéia de indiferenciação e de pluralidade de horizontes de sentido, uma vez que não existiria mais um único e estável horizonte onde o homem contemporâneo pudesse situar os acontecimentos.
E assim, diante das incertezas e complexidades da vida cotidiana nas grandes cidades, sentimo-nos muitas vezes desconcertados e perplexos. Diante disso, algumas perguntas se impõem: será hoje, todavia, a história um paradigma da prática arquitetônica e urbanística? Que desdobramentos têm essas revisões criticas para a história e a prática do urbanismo e do planejamento contemporâneo? Será que a história, ou alguma vertente da história, pode ainda ser um dos fundamentos da disciplina e da prática urbanística? Caso a resposta seja sim, como fazê-lo?
Pensá-las e tentar respondê-las é uma tarefa de todos nós, que acreditamos que precisam ser pensadas em um espaço de reflexão interdisciplinar. A especialização estrita, que fecha o saber em uma disciplina, tem levado o debate, na cultura arquitetônica e urbanística, a impasses e aporias, bloqueando caminhos e passagens para discussões sobre metodologias e pontos de vista mais ricos e frutuosos. Neste sentido, a aprendizagem de uma capacidade crítica no manejo dos textos, especialmente aqueles dedicados à arquitetura e à cidade, parece cada vez mais necessária. E, no âmbito especifico da prática da arquitetura e do urbanismo, seja na elaboração de projetos e propostas, seja no ensino, o estudo interdisciplinar, se configura como cada vez mais urgente, sem perder, no entanto, a especificidade do discurso arquitetônico e urbanístico.
notas
1
O presente artigo é uma adaptação do texto apresentado no VIII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, Niterói, nov. 2005.
2
BENEVOLO, Leonardo. História da cidade. São Paulo, Perspectiva, 1983. p. 9.
3
VATTIMO, Gianni. El fin de la modernidad. Barcelona, Gedisa, 1996, p. 14.
4
ANDERSON, Perry. O fim da história: de Hegel a Fukuyama. Rio de Janeiro, Zahar, 1992.
5
Idem, ibidem, p. 119.
6
Apud ANDERSON, Perry. Op. cit., p. 86-87.
7
ANDERSON, Perry. Op. cit., p. 8.
8
Idem, ibidem, p. 9.
9
ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. São Paulo, Companhia das Letras, 1992, p. 265.
10
BENJAMIN, Walter. “Teses sobre filosofia da historia”. In Walter Benjamin. São Paulo, Ática, 1991, p. 161.
11
Idem, ibidem, p. 161.
12
Idem, ibidem, p. 157.
13
VEYNE, Paul. Como se escreve a história: Foucault revoluciona a história. Brasília, Editora da Universidade de Brasília, 1982.
sobre o autor
Elyane Lins Corrêa, arquiteta-urbanista, mestre em Filosofia da Arte (UFPB), doutora em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo pela Universitat Politécnica da Catalunya. Atualmente é professora da Faculdade de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, e do mestrado em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia.