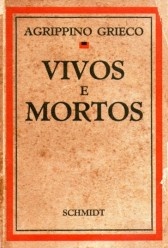Apresentação
No começo dos anos 1930, o antigo já se esgotara completamente mas o moderno ainda não havia chegado na arquitetura carioca. Havia, pois, um interregno de verdadeira crise – no sentido etimológico do termo – porque, como diria Gramsci, o velho ainda não tinha morrido e o novo ainda não houvera nascido por aqui. Vicejavam no Rio de Janeiro o ecletismo, o neoclássico, sobretudo o academicismo, tendências ou movimentos do século 19 que, aqui, se prolongaram para além dele. Vivenciando esta transição, Costa, que teria projetado em coautoria (1) até mesmo um castelo medieval em Itaipava, no ano de 1924 (ano em que se formara na Escola Nacional de Belas Artes – ENBA), rompeu com o “ecletismo acadêmico” naquele mesmo ano de 1930 (2), sendo certo que já atuava profissionalmente havia quase dez anos (a primeira regulamentação profissional, exigindo a graduação específica, só seria promulgada em 1933). O academicismo, como se sabe, designa uma arte desprovida de originalidade e que se limita a reproduzir as normas aprendidas nas academias – tal como então lá ocorria.
Oscar Niemeyer afirmava que a primeira grande manifestação do movimento moderno no Rio teria sido a sede da Associação Brasileira de Imprensa – ABI, dos irmãos Marcelo e Milton Roberto, que foi projetada em 1936 (projeto vencedor de concurso) e levantada entre 1936 e 1939. Historiadores da arquitetura como Yves Bruand dizem a mesma coisa a respeito dessa grande obra fundadora, com cerca de 8.500 m2 de área construída. Pois bem. Antes disso, em 1931, o crítico Agrippino Grieco publicou pela editora Schmidt (fundada pelo escritor modernista Augusto Frederico Schmidt) o livro Vivos e mortos que contém curioso capítulo (reproduzido abaixo, na íntegra) que traz uma visão devastadora da arquitetura e do urbanismo carioca pré-modernista.
Afrontando a ideia de “cidade maravilhosa” – epíteto que ganhara em 1911 da poetisa francesa Jane Catulle-Mendès, que realçou a paisagem natural –, o texto mostra a reunião da feiúra que havia na paisagem construída da cidade do Rio de Janeiro porquanto vingava nela a imitação de estilos estrangeiros, para ostentação da classe rica, ao invés da concepção de obra original. A sua arquitetura era, pois, uma contrafação, ou seja, uma cópia mal feita. Em escrita cortante e hilária, banhada de alta erudição, Grieco comparava a burguesia enriquecida carioca, quando construía, a canibais que se metessem a comer em louça fina.
Considerado “cáustico”, “vinagrento”, “enfant terrible” da crítica, “crítico-humorista” (um gênero novo, observa Afrânio Peixoto), Agrippino Grieco censura acerbamente o ecletismo – “caravançará de estilos” (3) – que mistura “minaretes, torreões, agulhas medievais” numa cidade tropical, de natureza exuberante, não se importando a arquitetura com as “leis regionais de ambiência”, ou seja, com o “espírito do lugar”. E é interessante observar que, já em 1931, ele se refere, de passagem, a Le Corbusier, ao criticar as obras que são levantadas sem plano fixado, “às tontas”, ao contrário do que faria o mestre franco-suíço. Lembre-se que Le Corbusier esteve no Rio, pela primeira vez, em 1929 e voltaria, depois, em 1936. Centro cosmopolita, em 1930 a cidade tinha 1,4 milhão de habitantes mas o crescimento populacional vertiginoso faria com que logo alcançasse 2,5 milhões de habitantes em 1950.
Em seu importante dicionário (que agora será reeditado), Eduardo Corona e Carlos Lemos definem o ecletismo como “o movimento ou a tendência resultante da falta de originalidade e de caráter na obra arquitetônica que surge em determinado momento no qual existe o embate de ideias e o conflito de culturas”. Dizem que o período mais caracteristicamente eclético foi o fim do século 19, quando “os estilos arquitetônicos até então existentes não conseguiram exprimir a realidade e não se fixaram como manifestação cultural” (4).
Num país periférico, é natural que isto ocorresse na cidade do Rio de Janeiro – mesmo que capital – até o final dos anos 1920, quando o modernismo chegou como renovação, como ruptura, evidenciando uma grande arquitetura que se materializou em obras de Costa, dos irmãos Roberto, de Affonso Eduardo Reidy e, sobretudo, de Oscar Niemeyer Soares Filho. Portanto, o texto de Grieco constitui documento interessante porque captura exatamente este hiato, este intervalo, em que o velho se transformava em “pitoresco” e o novo chegaria logo depois, passando um rolo compressor nos “mestres do passado” (expressão de Mário de Andrade para os parnasianos), grandes profissionais de visão rigidamente acadêmica que o Rio teve como, por exemplo, Heitor de Melo (1875-1920) – titular de composição da ENBA, cujo escritório técnico projetou diversos edifícios da Avenida Central e onde Lúcio Costa trabalhou como desenhista entre 1919 e 1920.
Falando a respeito de Heitor de Mello, o escritor Tristão da Cunha (1878-1942) afirmava, em 1921, que “muitos edifícios ele deixou no Rio, muitos e muito pouco em relação à massa enorme da banalidade inestética que nos oprime”. Acrescenta Tristão, no mesmo sentido de Grieco, ser necessária a “regeneração dos nossos estilos, hoje os maiores inimigos da nossa paisagem. E os atentados contra a arquitetura são como os atentados contra a natureza: duram mais que o tempo do homem e estão sempre diante dos olhos” (5). Agrippino Grieco, em 1931, escrevia sobre aquilo que via na cidade, nas edificações burguesas e, na última parte do texto, penetra até mesmo dentro delas, quando trata da arquitetura de interiores, com “bancos e sofás de anatomia hedionda, quasimodesca”.
Quase como um complemento do texto que se vai ler em seguida, um retrato, em tintas fortes, do panorama social do Rio de Janeiro na mesma época – com foco nos excluídos, nos camelôs, nas prostitutas – pode ser lido nas crônicas que Humberto de Campos reuniu em Os párias, livro publicado pela José Olympio em 1933. Membro da Academia Brasileira de Letras, Humberto de Campos foi um famoso escritor brasileiro, de muito sucesso de público, que hoje se encontra completamente esquecido – e o livro citado foi o quarto título publicado pela editora José Olympio, quando ainda tinha sede em São Paulo e comercializava as obras das bibliotecas dos juristas Alfredo Pujol e Estevam de Almeida, como é informado na orelha do volume.
Escreve Humberto de Campos: “Não é irritante ver levantar-se, no centro da cidade, um palácio de milhares de contos, no momento em que o proprietário reduz o salário dos trabalhadores das suas fábricas, reduzindo-lhes, portanto, o pão, e apenas um ano depois de haver pedido aos poderes públicos o aumento das tarifas alfandegárias para evitar a concorrência estrangeira ao produto da sua indústria?”
O texto de Grieco trata da arquitetura desses palacetes. Os intertítulos são do original.
notas
1
Lúcio Costa nunca assumiu a coautoria do projeto, atribuindo exclusivamente ao sócio Fernando Valentim a reprodução do castelo europeu. Sócios, ambos abriram seu escritório em 1922.
2
No ano de 1928, em pequeno artigo de jornal denominado “O Aleijadinho e a arquitetura tradicional”, Lúcio Costa esboçou um “início de rompimento com o movimento neocolonial” (Julio Roberto Katinsky). Grandes trechos desse artigo foram depois rejeitados pelo autor, já em idade madura.
3
“Caravançará” significa mistura, confusão.
4
Verbete “ecletismo”. In CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos. Dicionário da arquitetura brasileira. São Paulo, Edart, 1972.
5
In Obras, 1979, vol. 1, p. 232-233. O texto se chama “The House Beautiful” e foi escrito para jornal, sendo depois recolhido em livro.
sobre o autor
José Roberto Fernandes Castilho é professor de Direito Urbanístico na graduação em Arquitetura e Urbanismo da FCT/Unesp. É autor do livro O arquiteto e a lei (3ª edição, 2017).

Capa da edição de 1931
Imagem divulgação
O sabbat da fealdade (1)
Agrippino Grieco
Desorientados por uma falsa cultura eclética, em que a impudência vai não raro à imprudência, alguns habitantes do Rio convertem as suas casas em autênticos museus de horrores. Vivendas há aqui, nesta metrópole do mau gosto, que de tão feias chegam a ser obscenas. Falta um Ruskin para dar lições de bom gosto a estas míseras criaturas. Falta um Morris para ensinar-lhes como se adquire um mobiliário que, nem por ser pobre, deixa de ser elegante, atraente, doce às carnes que nele se acomodam e agradável aos olhos que o contemplam.
Nada sabemos escolher para aformosear o nosso domicílio, o sítio em que passamos a maior parte da existência, esquecidos de que cumpre dispensar uma proveitosa educação visual aos nossos filhos, prepará-los, pelo contato da beleza, desde que nascem, a fazer da vida um poema, uma obra de arte.
Até o nosso papel de parede é uma tristeza, com as suas ramagens e as suas figurinhas de uma fantasia indigente. Vivemos entre bibelôs baratos de turco e cadeiras e cantoneiras de vendedor polaco, tudo adquirido a prestações.
Tudo horrível e acrescido de infames flores artificiais – num país em que há tantos milhões de lindíssimas e perfumadíssimas flores naturais! – flores que são o pavor dos brasileiros inteligentes e a volúpia das moscas que lá vão escrever as suas coisas em alfabeto de aparelho Morse.
Permaneceremos insensíveis aos conselhos de eurritmia (2) de quantos desejam arrancar-nos à nossa cegueira de bárbaros da estética.
E os nossos parques, os nossos jardins cuidadosamente barbeados? Caluniamos, ultrajamos a natureza circunstante, e, como se não bastassem as salas de uma pretensão de camarim de velha atriz ou de gabinete de dentista suburbano, enchemos os canteiros de bolas de vidro verde ou amarelo, de odiosos viveiros de pássaros, de pequenos tanques cujo maior mérito é acolher mosquitos destinados a propagar febres que liquidem os selvagens do chalezinho ou ou do bangalô...
Montra de Sloper, vitrina de Montana, Rangel das medalhinhas, eis os nossos clássicos em matéria de jóias de latão, de colares de vidrilhos, de enfeites de pechisbeque (3).
Extasiamo-nos diante de uma péssima fotografia colorida ou desses hediondos espelhos, pelos inimigos de Veneza classificados de venezianos, espelhos de moldura exorbitante, nos quais se reflete, num sorriso que quer ser angelical, o carão pitecantrópico dos Calibans (4) da família.
Tudo teratológico: fealdade espelhando-se em fealdade. O mascate é o nosso Ruskin, o homem das prestações o nosso esteta. Estamos pior do que numa toca de esquimós ou numa cubata (5) de zulus. E tudo porque não há um código de postura com pesadas multas para os monstros que estragam esta linda paisagem, esta luz, este céu, estas árvores maravilhosas.
Não sabemos sequer escolher uma gravata, e os panos uivantes que enrolamos no pescoço (por que não dar logo o laço de enforcamento?) valem por murros no olho do passante. São cores que escandalizariam a uma arara e pareceriam excessivas mesmo aos pintores de taboletas e de alegorias para casas de pasto.
Quem não se indigna a ver, em nossos lugares de recreio, tantas caricaturas de Trianons e de torres góticas, e de templos gregos como o da Quinta da Boa Vista, pintado a ouro banana pela Diretoria de Matas e Jardins?
Sempre a paródia, a contrafação, a contravenção aos códigos da estética de um Winckelmann ou de um La Sizeranne. A mentiromania da lantejoula e do ouropel, a camuflagem do sucedâneo, a hipocrisia do produto similar...
Fecundos em abortos
Mas a parte mais cômica é a das nossas avenidas, examinadas a alguns metros de distância, para efeitos de perspectiva. É uma feira cosmopolita, um caravançará de estilos, uma encruzilhada de construtores de má morte que trabalham aqui sem obedecer às leis regionais da ambiência, indiferentemente, como trabalhariam em Porto-Said, em Melbourne ou em Los Angeles.
Ao que bem acentuou o meu querido José Mariano Filho (6), em diversos trechos de um guia sarcástico da arquitetura carioca, multiplicam-se no Rio os trabalhos de pastelaria em cimento armado ou os bolos em vários andares de confeiteiros que passaram pela Escola Politécnica ou pela Escola de Belas Artes.
Como fazem rir os casinholos baixotes com grandes cúpulas à oriental, mostrando quanto é tola a nossa histeria de vaidade, a nossa ridícula “philia” (7) de encartolar os casebres do arrabalde ou do centro, saudosos talvez dos cartolões conselheirais do Segundo Império!
Minaretes, torreões, agulhas medievais, colunatas de tijolo, guirlandas de gesso: – aí está ao que se reduz a imaginação plástica dos mestres de obras guindados a arquitetos, pobres copistas dos figurinos de urbanismo europeu já fora de moda, adulativos anéis de Saturno girando inconscientemente em torno às ideias agora apagadas de Vitruvio e Vignola.
Passando muito depressa, depressa demais, da tanga ao tango, do carro de bois ao automóvel, somos os novos-ricos de todas aquelas coisas civilizadas que excedem as nossas possibilidades de preparatorianos da Civilização. Quase vamos ao extremo de por o respectivo preço em cada lambrequim, em cada voluta, em cada arquitrave, como os arrivista do capitalismo sentiriam prazer em penetrar nos salões em que vão arrotar e escarrar levando, nos punhos e no peitilho da camisa, uma etiqueta com o preço das abotoaduras e dos botões reluzentes... Somos comparáveis a canibais que se metessem a comer em louça de Sèvres, antropófagos que devorassem o bispo Sardinha de garfo e faca em punho (talher de peixe).
Tudo serve para tudo
Outro detalhe pitoresco é a mutação cenográfica por que passam certos casarões, adaptados a finalidades inteiramente opostas ao primitivo destino.
Certo quadrângulo de pau e pedra do largo de São Francisco começou em projeto de igreja e acabou escolha de engenharia. Um meio sobrado da rua 1º de Março já foi areópago de juristas decrépitos e hoje abriga a Diretoria de Estatística e a Inspetoria dos Bancos.
O antigo palácio do conde dos Arcos transmudou-se em Senado e concluiu em Departamento de Ensino. Alguns pobre solares anacrônicos da praia de Botafogo converteram-se em colégios de educadores britânicos. O [palácio] Monroe, depois de ser mostruário de exposição internacional, foi mostruário da ruim retórica da nossa Câmara Baixa e agora o é da nossa Câmara Alta. A primeira Escola de Belas Artes, com a bela fachada de Grandjean de Montigny, desceu a dependência burocrática do Ministério da Fazenda. O [teatro] Lírico, melhorando de hierarquia, ascendeu de circo de cavalinhos a teatro de bilheteria exigente, graças aos gorgeios dos Carusos e Zanatellos. Também uma sórdida casa de cômodos notabilizou-se em academia de direito, isto lá para as bandas do Campo de Sant’Anna. O paço imperial, feito museu, escancarou-se a dezenas de visitantes prosaicos. Após haver exibido os produtos da indústria francesa, o Petit-Trianon (8) oferece um leito hebdomadário aos sonolentos patriarcas das nossas letras, com chá e espórtula em envelope. A extinta Cadeia Velha foi longos anos o cortiço do Legislativo. Numa das alas do falecido teatro São Pedro figurava uma agência municipal, entre um caldo de cana e uma casa de penhores. E assim por diante...
Fazemos tudo às tontas, aos trambolhões, sem plano fixado, sem caminho em linha reta. Convertemos um hotel em quarto, uma farmácia em biblioteca pública, um galpão de fábrica em asilo de menores. O nosso Corbusier é o primeiro empreiteiro sem letras e sem técnica, o primeiro especulador sem sintaxe e sem desenho que por aqui aporte...
Deselegância inata
Produz náuseas a solenidade endomingada de certos palacetes da avenida Paulo de Frontin ou da avenida Mem de Sá, com salas de visitas repletas de móveis com celouras brancas. Um lacaio de Versalhes, um cocheiro de Florença ou um verdureiro de Atenas teria muito mais finura que os burgueses enriquecidos com as trapaças do tempo da guerra, com as trapaças de todos os tempos.
Estes bancos e sofás de anatomia hedionda, quasimodesca (9), são só compreensíveis numa época de decadência e de ostentação pavoneante, época em que os homens falando tanto em igualdade, gostam tanto dos galões, das comendas, dos títulos vistosos. Não se compreende um tacão vermelho de fidalgo da corte de Luis XIV pisando num desses tapetes de pacotilha, de carregação, que bem merecem a aspersão com que os cachorros – beneméritos cachorros! – vão orvalhá-los, patenteando melhor senso crítico que os donos da taba pomposa.
Gente que se estiola em ambientes assim é bem da idade do guarda-chuva, é bem a gente que pinta por cima da cantaria imitando cantaria, é bem do século dos coloristas e ornamentadores à moda tupiniquim, aptos, quando muito, a desenhar padrões de chita ou a fornecer modelos para cromos de folhinha.
Falamos, há pouco, em móveis. É um particular em que há inúmeras minúcias a reter. Quanto saboroso episódio de farsa a propósito de cadeirinhas raquíticas, ressequidas, com perninhas de inseto, cadeirinhas que têm todas as graças, todos os encantos, possuindo apenas um único inconveniente: o de ninguém poder sentar-se nelas sem arriscar-se a um mergulho nos almofadões do soalho. Outras cadeiras são pesadas como curuis (10) à romana, parecendo atacadas de elefantíase e destinando-se talvez a acolher confortavelmente as gorduras calipígicas (11) do ator Chaby ou do deputado paranaense Plínio Marques. Em caso de mudança é uma tragédia e é quase necessário mobilizar um regimento de carregadores para transferir o dispendioso trambolho da vila Nair (aqui no Rio qualquer habitáculo de 15 contos é vila) para a vila Odaléa ou para a vila Clara dos Anjos.
Vê-se que a essas tribos falta exatamente a noção de meio termo. Medíocres de cérebro, são sempre exagerados nas coisas caseiras, para impressionar o vizinho, para assombrar o colega de repartição, para fazer boquiabrir a prima da cunhada do tio Alfredo.
E a arrumação de tudo isso? É uma desarrumação permanente, tendo-se a impressão de que esse pessoal vive numa tenda ambulante, ou vive sempre pensando na andorinha de mudança, com a mobilidade dos antigos moradores de estalagens, ou de habitações coletivas, como se diz hoje, em boa linguagem. Às estirpes solidamente enraizadas no lar e na gleba sucederam-se bandos movediços que parecem oriundos de carretas de ciganos. Casas há que recordam depósitos de leiloeiro...
Em suma, bem ridículas são tais criaturas que passam a existência entre paredes cheias de retratos de falsos parentes nobres e diplomas emoldurados de sócios de agremiações recreativas. Criaturas que gostam de ostentar, como caixeiros em férias, roupas muito novas e sapatos muito rangentes, quase indo ao extremo de esbordoar quem quer que lhes perturbe o friso da calça ou lhes atire um perdigoto à vaselina do bigode. Criaturas que, em matéria de arte, oscilam entre a valsa e o soneto, o álbum e o recitativo, a vinheta e o boneco de celulóide, e comem em pratos horrivelmente pinturilados, antiaperitivos para qualquer conviva bem educado, mesmo com fome de vários dias.
Almas de armarinho e belchior, esses ricaços que carregam anéis em todos os dedos e avariam o estômago com molhos químicos e licores de tintureiro, nem sequer se apercebem de que a sua riqueza é pior que a pobreza, porque é fealdade...
notas
1
GRIECO, Agrippino. O sabbat da fealdade. Vivos e mortos. Rio de Janeiro, Schmidt, 1931, p. 259-267. No texto, o termo (de origem hebraica) “sabbat” ou “sabá” significa reunião, assembleia, convenção. Seu título, portanto, tem o sentido de “a reunião da feiúra”. Quando foi republicado na segunda edição do livro, de 1947 (Obras Completas), o nome foi reduzido para “Fealdade”.
2
Conceito vitruviano com sentido próximo de “harmonia” da composição. Segundo Vitrúvio, “é a forma exterior elegante e o aspecto agradável na adequação das diferentes porções” da obra.
3
Liga de cobre e zinco, que imita ouro. Portanto, ouro falso. No início da frase estão indicadas antigas lojas do Rio, como a Casa Sloper.
4
Pessoa disforme e monstruosa, personagem da suposta última peça de Shakespeare, “A Tempestade” (1610/1611).
5
Habitação rústica e precária.
6
Formado em Medicina, José Marianno (Carneiro da Cunha) Filho (1881-1946) foi crítico de arte, fervoroso defensor da arquitetura neocolonial e, por isso, de “mentor” tornou-se depois o maior opositor das ideias modernistas de Lúcio Costa. Em 1973, Lúcio Costa emitiu controvertido parecer técnico que permitiu a demolição da magnífica residência de Marianno no Rio, o Solar Monjope, no Jardim Botânico. Disse que era um “falso testemunho, exemplo de como a casa brasileira nunca foi”.
7
Transliteração latina para um termo grego. Aqui significa atração, admiração. Em geral é traduzido por amizade ou amor.
8
Reproduzindo o palácio que existe em Versalhes, construído por Luiz XV, é a sede da Academia Brasileira de Letras, edificação feita para a Exposição Internacional de 1922 e depois doada pelo governo francês. Era o pavilhão francês nesta exposição.
9
Deformado de nascença, Quasímodo é o personagem central do romance “Nossa Senhora de Paris”, de Victor Hugo (1831). No livro, é visto como um monstro pela população da cidade.
10
Plural de “curul” = cadeira destinada ao uso dos mais altos dignatários de Roma, sobretudo dos magistrados. O plural é “curuis”, como no texto, ou “curules”.
11
Termo de origem grega, “calipígia” que dizer belas nádegas. Daí, por exemplo, a Vênus Calipígia que se encontra no Museu Nacional de Nápoles.
sobre o autor
Agrippino Grieco (1888-1973), crítico literário e ensaísta brasileiro, colaborou em O Jornal, Revista ABC e Hoje. Foi um dos fundadores, ao lado de Gastão Cruls, da Editora Ariel, no Rio de Janeiro, que esteve em atividade entre 1930 e 1939, e foi o responsável pela revista Boletim de Ariel, a principal revista literária da época.