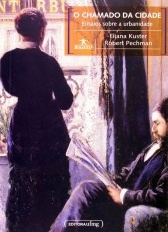O chamado da cidade tem seu título explicado por seus autores, a arquiteta Eliana Kuster (1) e o historiador Robert Pechman (2), logo na sua apresentação. Os autores partem do conceito do livro “O chamado da floresta”, de Jack London, publicado em 1903. Nesse romance, seu protagonista, Buck, é um cão acostumado à uma vida de confortos, domesticada, até que é raptado e levado ao Alasca onde tem que desempenhar uma série de trabalhos árduos e acaba sofrendo maus tratos. Nessas condições, o cão caminha gradualmente em direção ao seu ser selvagem, retornando à sua condição animal. O “chamado da floresta” seria, então, esta força que chama o ser ao seu estado primal.
Kuster e Pechman usam dessa narrativa para formular o seu contrário, o “chamado à cidade”. Para eles, se o chamado da floresta conduz à selvageria, o chamado à cidade deveria conduzir a um estado de convivência civilizatória que a cidade promete, dando conta da sua própria versão da selvageria, a violência, tema constante do livro. No entanto, para os autores, esta capacidade urbanumana de diálogo entre as alteridades, de tratar da sua violência, estaria se esvaindo, revelando uma corrupção do processo civilizatório; onde deveria haver a complexidade da vida conjunta na cidade, tem-se os cortes bruscos e simplificadores da violência. O chamado da cidade parece não estar sendo mais escutado (p. 12).
O “chamado da cidade”, então, é como um alerta. É um apelo para nossa capacidade de ouvir o que a cidade nos diz, como se ela nos desse pistas sobre si própria e sobre nós, seus habitantes. Nesse sentido há uma busca pela apreensão de algo que foge à observação meramente material da urbe, algo que Durkheim aponta como um certo mistério que percorre da vida social, que os poetas são capazes de perceber, e que fogem àqueles que dedicam um olhar superficial ou duro à cidade.
Expandindo o “poeta” de Durkheim, encontramos uma gama de artistas que direcionam sua atenção e produção para o espaço urbano. É por meio da produção do cinema, da literatura e da pintura que Kuster e Pechman vão elaborar suas leituras urbanas, usando-as como lentes. Ao buscar representações da cidade na literatura, é frequente recorrer a Baudelaire e sua construção do flâneur, sem dúvida um personagem importante para o contexto de transformações urbanas europeias no fim do século 19, e talvez por isso seja comum partir desse exemplo. Uma novidade introduzida em “O chamado da cidade” é, sem negar a contribuição baudelaireana, expor a narrativa da cidade brasileira, vista por uma narrativa brasileira. Isso fica evidente nas análises sobre textos de Rubem Fonseca, Sérgio Sant’Anna, Clarice Lispector, Aluísio Azevedo e Jorge Amado.
É fato, também, que os autores não se privam das referências europeias e estadunidenses. No entanto, a comunhão de autores brasileiros falando de cidades brasileiras configura uma imagem fresca do que é buscar as frestas em cidades filhas da colonização, na periferia do capitalismo. Desse modo, joga-se luz tanto na urbanidade brasileira, quanto na forma de narrar essa urbanidade. Por exemplo, no ensaio “Moradores de cortiço, capitães de areia e cobradores de ônibus”, ao analisar a obra O cortiço, de Aluísio Azevedo, Capitães da areia de Jorge Amado e O cobrador, de Rubem Fonseca, Eliana Kuster usa dessas obras para mostrar como se inscreve na formação urbana brasileira a condição de subalternidade de determinados grupos sociais, já anunciados no título do ensaio. Assim, refletir sobre a realidade urbana brasileira a partir dessa literatura, significa colocar à vista as contradições e atores que compõem a própria realidade brasileira. Este tipo de análise funciona como uma observação através de um anteparo translúcido, como olhar para a cidade através de uma janela difusa, sendo necessário reconhecer as características tanto da cidade que se olha, quanto da janela atravessada.
Esta possibilidade de leitura urbana pede versatilidade no reconhecimento de sinais da linguagem analisada. Ao ver a cidade a partir dessa ótica, é preciso saber ler a obra-anteparo utilizada como artifício de leitura dessa cidade, considerando que cada linguagem de representação possui suas próprias idiossincrasias. Nesse sentido, os autores acertam em limitar as linguagens observadas: literatura, cinema e artes visuais (com um ensaio dedicado à propaganda), permitindo uma concentração ponderada nos símbolos que estas formas artísticas oferecem. Ainda assim, conseguem propor uma visada ampla para análise.
Fazer a análise urbana atravessar o “anteparo translúcido” da obra artística, significa lidar com suas distorções. As representações que dispomos são produtos de um processo de edição do olhar e, portanto, implicam em uma forma singular de observar a realidade. Este é outro desafio dessa estratégia de análise: reconhecer os recortes da obra artística de modo a identificar seus limites enquanto motor reflexivo.
O que está sendo proposto aqui é a ideia de mediação, presente neste ensaio da autora e no livro como um todo. O que Kuster nos diz sobre o cinema pode ser adaptado para outras linguagens da representação, se entendermos que a realidade em que vivemos é vista, formatada e entregue de volta a nós por diversas formas de expressão. Desse jogo nasce a tensão entre a realidade na qual estamos inseridos e a realidade que nos é contada. É nesse interstício que as análises de O chamado da cidade acontecem.
As complementaridades entre linguagens se mostram bastante férteis quando os autores focam um objeto urbano delimitado e o observam através de diversas formas artísticas. É o caso do ensaio “Maldita Rua”, de Eliana Kuster e Robert Pechman. Aqui os autores apresentam um panorama da rua enquanto espaço público desde a cidade medieval até a contemporaneidade, mas não o fazem observando diretamente a rua, mas suas representações na literatura e principalmente na pintura. É desse olhar oblíquo que os autores pretendem extrair o “extrato urbano” da obra artística ao mesmo tempo em que investigam se sua linguagem revela algo antes cifrado. Eliana e Robert pontuam questões como as multidões que passam a habitar as grandes cidades no fim do século 19, o deslumbramento com as obras urbanas que davam origem a espaços como bulevares e largas avenidas, a rua como espaço decaído e complexo.
Todavia, há uma “armadilha” ao lidar com análises urbanas mediadas por representações artísticas: o viés de leitura. A natureza “aberta” da obra de arte permite projetar sobre ela uma miríade de significados, dependendo de quem faz sua leitura e como o faz. Portanto, ao deparar-nos com um estudo urbano mediado por uma obra de arte, estamos colocando em nossa frente outro anteparo: o próprio pesquisador, através do qual teremos que observar. Isso significa reconhecer que aquela pesquisa está inscrita na visão do pesquisador (como qualquer outra pesquisa). No entanto, o caráter interpretativo da obra de arte abre espaço para que aquele que observa a cidade através da representação artística preencha as reflexões consigo próprio. Reconhecer esta “armadilha” não significa condená-la, mas sim saber compreender aquele estudo de forma dialógica.
Leitor(a)→ Pesquisador(a) → Obra de Arte → Cidade
Entendendo que o objetivo de “O chamado da cidade” (e outros trabalhos que utilizam essa mesma lógica) é o estudo da cidade (e não diretamente da obra de arte), esse distanciamento do objeto de análise configura um processo de risco. Ao mesmo tempo que podem surgir leituras oportunas, também pode a cidade se afastar tanto do olhar que ela se torna apenas virtualidade.
Em alguns momentos, durante o ensaio “Eros furioso na urbe”, Robert Pechman parece deslizar sobre esta fina camada de gelo que cobre a análise urbana e a leitura da obra de arte. Este é um equilíbrio dinâmico, justamente aquilo que tenciona trabalhos como este. Pechman apresenta uma série de cenas pintadas por Edward Hopper e as contextualiza sob um olhar do desejo na vida urbana. Ao analisar o quadro “Escritório em Nova York” Pechman escreve:
“Nessa tela, que retrata um aspecto banal do cotidiano da maior metrópole da Terra, o pintor abole qualquer resquício de Natureza, a não ser a figura da mulher que impõe sua “Natureza” à cidade. A tensão aqui é entre a estrutura arquitetônica e urbanística que ocupa dois terços do quadro e a figura de uma mulher que mais parece uma artista de cinema. Nesse sentido a grande janela de vidro do escritório transforma-se em tela, e ao mesmo tempo, superfície de projeções dos desejos do observador” (p. 279).
Antes de aceitar ou recusar essa leitura feita pelo autor, é preciso considerar os “anteparos” colocados entre nós (leitores) e o objeto final (a cidade). Conscientes da existência de dois estágios intermediários de análise (como mostrado no diagrama acima), passamos a considerar as distorções que eles aplicam sobre o objeto analisado; e assim podemos construir nossa reação à leitura que Pechman faz à obra de Hopper. Este processo vale para todo o livro, e o estenderia para todo estudo que propõe a observação de um objeto através de uma representação dele. No caso específico deste ensaio de Pechman, há momentos em que ele parece introjetar na obra de Hopper narrativas caras a ele próprio (Pechman), que não necessariamente estão presentes nas pinturas. Nesses momentos, as telas do pintor funcionam quase como ilustrações do texto, colocando em dúvida o poder da imagem. Isso não tira o mérito das análises e leituras propostas, e sim agrega complexidade ao olhar urbano e ao olhar artístico.
Estudar a cidade através de linguagens de expressão artística significa lidar com uma representação não objetiva da realidade, mesmo quando o objeto de interesse está imerso na materialidade, na trivialidade. Nesse sentido, “O Chamado da Cidade” parece dizer como fazer uma análise urbana a partir de representações artísticas, e ao mesmo tempo sobre as questões urbanas de fato.
Ao longo do livro se faz perceptível o aviso que a autora e o autor fazem no texto introdutório. Há um tema constantemente presente, que permanece “dormente” em partes do trabalho, mas que surge à superfície na maioria dos trabalhos, arrematando análises das obras e contextualizando a discussão urbana. Como já apontado, este tema é a violência; no entanto, ele é desdobrado em suas nuances. Pechman discorre sobre a relação entre a queda de urbanidade e o incremento da violência, a urgência de soluções de segurança para reaver um certo bem estar perdido com a perda da civilidade, enfim a cidade transformada em cidadela. Junto desse cenário, o autor posiciona a obra de Rubem Fonseca, colocando-o como um “experimentador” da cidade e de imaginários dela, positivos e negativos. O conto “Passeio Noturno”, usado pelos autores, revela uma violência explícita executada através da cidade, esta usada como ferramenta. Ao comentarem, os autores lembram da relação entre o chamado da cidade e o chamado da floresta:
“Nesse conto o personagem já rompeu completamente com a sociedade, mas continua preso a um modo de ser na cidade que passa por seu modo de territorialização, ou seja, um predador que, para se saciar, sai de sua toca na zona sul e vai caçar nos subúrbios” (p. 93).
Ambos falam da transformação do espaço da rua, que vai de vielas perigosas a bulevares, de encontros com indesejáveis a possibilidades do amor. Há violência nesses processos pois não se tratam apenas de alterações espaciais, mas também culturais, de formas de vida. Através do filme Colateral, Kuster revela como o peso da vida urbana soterra o poder de reação humana diante de atrocidades. A violência crua justaposta à vida que se desenrola ao seu lado. A autora também fala de personagens esquecidos pela cidade, ou violentados por ela: moradores de cortiço, moleques de rua e cobradores de ônibus. Resgatados no interior de obras literárias, esses personagens são utilizados como alavancas para refletir sobre suas contrapartes na cidade fora dos livros. Ao refletir sobre Mata Rindo, um traficante do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, Pechman enuncia que o convívio humano preconizado pela cidade estaria chegando ao seu fim:
“Estaríamos, então, vivendo numa espécie de après-ville, onde o pacto urbano definhou e só nos restaria “flexibilizar” – assim como a economia faz com a mão de obra – o convívio e a tolerância? Por isso me parece que podemos supor que Mata Rindo seja o prenúncio de uma nova era, o anúncio de novas formas de “convívio”, a morte da ética na cidade” (p. 216).
Percorrendo todo o livro está a perda de urbanidade. Antes marcada por um “acordo comum” para se conviver na cidade, agora os espaços precisam se fechar, se armar. Embora os ensaios tenham sido escritos entre 2007 e 2009, e o livro publicado em 2014, este processo continua em pleno movimento, quiçá potencializados. O que os autores descreviam na primeira década do século XXI era a complexificação da vida na urbe e observaram, como resposta, a atuação de forças no sentido de simplificar esta vida, murá-la, cortá-la, retrocede-la a um período (talvez) mais simples. Disso vem a importância da análise urbana através de representações artísticas, pois dessa forma devolve-se a complexidade ao espaço da cidade e à narrativa desse espaço.
Como uma das consequências dessa regressão do pacto civilizatório das cidades, os autores indicam o fechamento das subjetividades sobre si mesmas. Este fechamento age como um mecanismo de defesa frente a impossibilidade de lidarmos com o peso sensorial de cada pessoa com quem cruzamos na urbe. Este processo acaba por acentuar o isolamento em si próprio, aumentar as distâncias entre as alteridades. Nesse sentido, utilizar a expressão artística como ferramenta de estudo da cidade funciona como uma ferramenta de resposta a este fechamento. A obra artística permite um vislumbre a partir de perspectivas que não temos acesso. É a partir da arte que aparece a potência de narrativas diversas sendo contadas por pessoas diversas, revelando interações, espaços e vivências antes ocultas. Também, a obra artística nos acessa por uma via não completamente racional, por isso capaz de driblar certas barreiras, conscientes ou não, colocadas entre nós e à narrativa desenvolvida na obra.
O chamado da cidade alerta para o recrudescimento da vida na cidade, para o aumento da violência, e para os sinais que estes processos deixam na cultura, na cidade e na arte, como evidências. Ao mesmo tempo, considerando a própria metodologia de análise utilizada, os autores apontam para uma possibilidade de compreensão da complexidade da vida na cidade. Por fim, o livro dá a sensação de que a expressão artística e a cidade têm algo a nos dizer, algo cifrado, encoberto, algo que os artistas tentam revelar através da linguagem. É como ver duas figuras ao mesmo tempo, sobrepostas: a cidade e sua imagem. No jogo entre elas reside o atrito e o encanto que a autora e o autor fazem ver através dos véus das linguagens.
notas
1
Arquiteta, docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Doutora em Planejamento Urbano pelo IPPUR/UFRJ.
2
Historiador, docente do IPPUR/UFRJ. Doutor em história pela UNICAMP, pós-doutor pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.
sobre o autor
Rafael Baldam é arquiteto pela Unicamp; mestre em arquitetura e urbanismo pelo IAU USP São Carlos; fundador do coletivo Rasante, de pesquisa e práticas entre arte, cultura e cidade; designer gráfico. Autor dos livros Submersa (Poesia, Penalux, 2021), Traduções (Quadrinhos, Ind, 2020), Mapas secos ao sol (Poesia, Patuá, 2019) e _quieto (Quadrinhos, Ind, 2018).