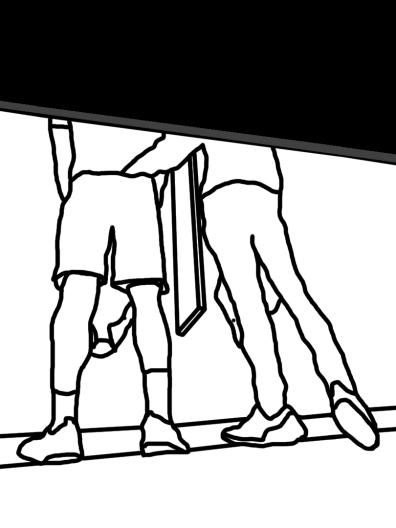Em memória de Vera Magiano Hazan,
arquiteta e educadora
Assim como ocorre com a maioria das escolas, a questão crítica da escola de arquitetura não é tanto a arquitetura, mas a escola.
Obviamente, a arquitetura é o tema central de tudo ou quase tudo que se faz na escola de arquitetura. Mas é justamente essa ênfase temática que, na prática, impede que os vínculos (específicos, polêmicos, problemáticos) entre, de um lado, o que se faz na escola e, de outro, a prática social da arquitetura, em suas várias instâncias, sejam discutidos e questionados.
Que, como qualquer escola, a escola de arquitetura é um dispositivo disciplinar (leia-se, de repressão e controle), não é nenhuma novidade. Isso é evidente no modo como tudo que ameaça o status quo da arquitetura é tratado na escola, a saber, como algo que, ou é estranho ao ensino da arquitetura (portanto, irrelevante e dispensável), ou abertamente contraditório com ele (portanto, nocivo e indesejável).
Na escola de arquitetura, ensinar, sobretudo ensinar projeto de arquitetura, é, por regra, um ato de censura ou de autocensura — ou o que é mais comum, os dois.
Eu não pensava assim quando, recém-formado, fui dar aula de projeto de arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro — FAU UFRJ. Olhando para trás, no entanto, me dou conta de que, ao longo dos anos, acabei adotando (de início, intuitivamente, depois, sistematicamente) práticas pedagógicas que, de algum modo, funcionavam — parcialmente, pelo menos — como contraponto aos dispositivos repressores da escola (1).
A primeira delas, adotada em ateliês de projeto, foi enfatizar o aspecto meta-projetual do projeto de arquitetura, estimulando assim o contato e a familiarização com sua dimensão autorreflexiva. Isso se traduziu em práticas pedagógicas que, sem prejuízo do compromisso com a instrumentação de futuras praticantes, concorrem para a desnaturalização de alguns dos dispositivos mais essenciais da práxis projetual — com destaque para conceitos operativos como “partido”, “programa”, “tipo”, “lugar”, “contexto”, “escala” e “forma”, para me ater aos mais corriqueiros. Ao fazer isso, meu objetivo foi sempre estimular que os alunos tivessem consciência de que, por mais triviais que possam parecer, tais dispositivos são, sem exceção, constructos socioculturais e ideológicos, e que, portanto, podem e devem, ainda que de modo preliminar, ser problematizados e desconstruídos.
O que tenho procurado fazer nos ateliês de projeto nunca se limitou, portanto, a combater os vícios e cacoetes mais recorrentes da projetação (“setorizar” usos e funções, “implantar” o edifício no terreno etc.), senão contribuir para que estudantes percebam que uma noção aparentemente operacional, digamos, como “programa de necessidades”, é tudo, menos neutra e inofensiva; que seu emprego traz consigo, inelutavelmente, uma série de limites e constrangimentos para o fazer projetual; que se ela faculta à projetista fazer muitas coisas, também impede que faça muitas outras; que deve e pode, portanto, ser passível de escrutínio, crítica e mesmo desconfiança.
Tome-se por exemplo a noção de “tipo”. Como afirma Giulio Carlo Argan,
“A criação de um tipo depende da existência de uma série de construções que tenham entre si uma evidente analogia formal e funcional. Em outras palavras quando um ‘tipo’ é definido pela prática ou teoria da arquitetura, ele já existia na realidade como resposta a um complexo de demandas ideológicas, religiosas ou praticas ligadas a uma determinada situação histórica em qualquer cultura” (2).
O conceito de tipo se vincula, portanto, a uma cultura arquitetônica bastante específica — cultura esta que valoriza sobremaneira a cultura urbana, a memória e a história plasmadas em qualquer tipo arquitetônico ou urbano.
Que esta cultura arquitetônica específica tenha se tornado predominante a partir dos anos 1960, e hegemônica a partir dos anos 1980, é compreensível: em jogo estava justamente deixar para trás a cultura arquitetônica que a precedeu — a saber, a de um modernismo que, dando as costas para a “arquitetura da cidade” (para citar um dos grandes campeões do tipo arquitetônico, Aldo Rossi) (3) — e privilegiando o edifício entendido como objeto autônomo e descontextualizado, pretendeu muitas vezes fazer tabula rasa da cultura urbana, da memória e da história, em favor de um compromisso imperioso com o novo.
Ao adequar-se a um determinado tipo arquitetônico ou urbano, o projetista está, portanto, quer tenha consciência disso ou não, fazendo mais do que simplesmente dar continuidade a uma determinada tendência projetual; está endossando uma ideologia que de neutra não tem nada (4). [Ocioso dizer que tanto “cultura” quanto “história” não são conceitos meta-históricos, muito ao contrário] (5).
O emprego da noção de “partido” exemplifica muito bem isso. Como costumo dizer a minhas alunas e alunos, o próprio uso da expressão “adotar um partido” diz muito da cultura arquitetônica que lhe subjaz. Uma cultura que, assim como ocorre com a noção de tipo, sobrevaloriza a forma enquanto pré-existência. Afinal, não se “adota” algo que já não exista, senão algo que jaz disponível nos arquivos (físicos e mentais) de uma determinada cultura arquitetônica e urbana.
Que o emprego das noções de “tipo” e “partido”, tanto quanto de “contexto”, tenham se disseminado a ponto de se tornar uma espécie de reflexo condicionado projetual de arquitetos e arquitetas a partir dos anos 1980, apenas atesta a força e a resiliência da cultura arquitetônica pós-modernista e do conceito de forma que lhe subjaz (6).
O que nos remete a uma das grandes lacunas de um ensino de arquitetura ainda fortemente preso à tradição clássica e ao modelo Beaux Arts de ensino: a indisposição ou incapacidade de discutir conceitos de forma alternativos e divergentes. Com efeito, “forma”, nas escolas de arquitetura, se restringe, por regra, a um conceito específico e naturalizado de forma — qual seja, a forma compositiva, vale dizer a forma conforme a define a tradição morfológica humanista, fundada na relação (idealmente “equilibrada” e “harmoniosa”) das partes com o todo.
Que outros conceitos de forma podem ser considerados e empregados na prática projetual — por exemplo, o conceito de forma serial (segundo o qual justamente a relação parte/todo é no limite abandonada em favor de um modelo alternativo de agenciamento formal, no qual os “componentes” — e não as “partes” — são organizados sem nenhum compromisso a priori com noções e sobretudo valores tipicamente humanistas como proporção, harmonia e equilíbrio, subsumidos no conceito clássico de Ordem), é uma evidência que as escolas por regra deixam de lado.

Tempietto, pátio de San Pietro in Montorio, Roma, c.1502. Donato Bramant
Foto Herbert Weber [Wikimedia Commons / Creative Commons]
Não tematizar conceitos alternativos e divergentes de forma tem consequências importantes para o ensino de arquitetura. Uma, em especial, merece destaque: dar a entender a futuros projetistas que a elaboração de todo e qualquer edifício deve invariavelmente se pautar por noções e valores como harmonia, proporção, equilíbrio e, em última instância, beleza.
Ora, um projeto concebido e desenvolvido segundo o conceito de forma serial não deveria, por definição, ser analisado, criticado e sobretudo valorizado com base em atributos inerentes à forma compositiva. E isso pelo simples fato de que, como acabei de destacar, alguns dos princípios fundamentais da forma compositiva não se aplicam à forma serial — por exemplo, o pressuposto de que, no limite, um edifício bem equilibrado e harmonioso (tenha-se em mente tanto um ícone da tradição clássica como o Tempietto de Donato Bramante, quanto um paradigma da arquitetura moderna, a Casa Savoy, de Le Corbusier,) não pode ser modificado sem implicar em uma de-formação.

Villa Savoye, Poissy, 1928. Le Corbusier
Foto Maurício Azenha
Na origem do conceito de forma compositiva não está, portanto, apenas uma noção de Ordem segundo a qual, para citar um dos grandes tratadistas do Renascimento, Giorgio Vasari, todas as partes de um edifício devem se ajustar “de modo proporcional, de tal modo que nada pode ser acrescido, subtraído ou alterado sem que se comprometa a harmonia do conjunto”; está também o pressuposto de que
“Os membros do edifício precisam ser como o corpo humano […] É preciso que [o edifício] represente o corpo humano em tudo e em cada uma de suas partes […] pois se a composição for desproporcional, com uma coisa alta e outra baixa, uma grande e outra pequena, a representação seria de seres humanos aleijados, contorcidos, zarolhos e estropiados; enfim, seriam obras que mereceriam censura, e não louvor” (7).
Ora, o que vale para a forma compositiva não se aplica em absoluto à forma serial. Como sintetizou o crítico Ronaldo Brito, o que resulta, por exemplo, do seccionamento de um objeto concebido segundo os preceitos da forma compositiva — e isso vale tanto para uma estátua clássica quanto para uma escultura ou um edifício clássico-moderno (8) — são, necessariamente, duas partes precárias e incompletas — partes que por si só não conformam um todo coeso e autossuficiente. Isso, contudo, não se aplica a objetos concebidos segundo o conceito de forma serial: o que resulta do seccionamento de uma série não são, por mais contraintuitivo que isso possa parecer, duas partes precárias e incompletas, senão duas novas séries autônomas e no limite autossuficientes. Se no primeiro caso a operação de seccionamento implica em uma divisão da forma, no segundo o que ocorre é uma duplicação da mesma (9).

Hospital Sarah, corte esquemático, Rio de Janeiro. João Filgueiras Lima, Lelé
Desenho do arquiteto [Livro "Arquitetura — uma experiência na área de Saúde"]
O compromisso estético-ético de um projeto concebido segundo o conceito de forma serial (tenha-se em mente o projeto de João Filgueiras Lima/Lelé para o Hospital da Rede Sarah no Rio de Janeiro) não é, a rigor, com a Ordem (não pelo menos com a ordem concebida em termos da relação equilibrada, proporcional e harmoniosa das partes com o todo), mas com preceitos e valores inteiramente diversos — com destaque para a noção de expansibilidade, ou seja, a ideia de que o edifício pode se expandir, no limite até o infinito, sem prejuízo de sua integridade, coesão e coerência formais (10).

Donald Judd, Untitled, 1994
Foto divulgação [Wikiart — Enciclopedia de artes visuais]
Expandir ou multiplicar os (micro ou macro) componentes construtivos e/ou espaciais de um edifício concebido com base no conceito de forma serial não resulta, assim, em deformação — e isso pela simples razão de que sua forma não emula, como quer a tradição humanista, o corpo humano bem proporcionado, equilibrado, harmonioso e, assim, belo. Um projeto concebido segundo o conceito de forma serial pode eventualmente ser “belo”. Mas a rigor não pode ser considerado “feio”, senão apenas incoerente ou — “desinteressante” — para lançar mão de uma categoria central do conceito serial de forma (11). E o mesmo se aplica para outras versões de forma não-compositiva, com destaque para a forma metabolista, cujo desenvolvimento, em contraste com a forma serial, não segue um eixo longitudinal, mas prolifera metabolicamente sem qualquer compromisso a priori com a ordem compositiva (12).

Nakagin Capsule Tower, Shinbashi, Tóquio, 1972. Kisho Kurokawa
Foto Kakidai [Wikimedia Commons / Creative Commons]
Não por acaso, projetos como o do Hospital da Rede Sarah no Rio de Janeiro não têm no croquis um dispositivo projetual indispensável ao processo de criação/geração da forma, senão a seção transversal — a qual, operando como matriz espacial generativa, será multiplicada ou estrudada (para lançar mão da metáfora empregada em sala de aula pelo arquiteto e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro — PUC Rio, Adriano Carneiro de Mendonça) ao longo de um eixo de desenvolvimento longitudinal estruturante (13).
Assumir que alunos e alunas podem e devem ter consciência de questões como as que acabei de destacar quando manipulam dispositivos como “tipo” ou “partido” não é, me parece, contraditório com um ensino instrumentador, quer dizer, voltado para a formação de arquitetas aptas ao bom exercício profissional; é acreditar que um ensino profissionalmente instrumentador deve ser também um ensino criticamente instrumentador.
*
O que tenho procurado fazer no ateliê de projeto tem como contraponto o que fazemos, meus orientandos e eu, no espaço do Trabalho de Conclusão de Curso — TCC.
O que fazemos ali não é apenas mais radical, digamos, do que aquilo que chamei acima de prática autorreflexiva; a rigor, é contraditório com ela — e não sem razão: se esta última concorre, como afirmei, para o aprimoramento crítico da boa prática da arquitetura, muitos desses TCCs (como é caso daqueles aqui apresentados, todos eles desenvolvidos no curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Rio) têm como propósito solapar a própria ideia de “arquitetura”, vale dizer, a arquitetura definida como campo específico e institucionalizado do saber e do fazer. Não por acaso, não foram poucas as vezes em que, diante de alguns desses trabalhos, membros de suas respectivas bancas examinadoras nos perguntaram, a mim e a minhas orientandas, “O que isso tem a ver com a arquitetura?” E quando passei a apresentá-los em encontros acadêmicos, a pergunta que reiteradamente ouvi, sobretudo de jovens professores, foi, “Mas é permitido fazer isso na sua escola?”
A pergunta crucial aqui, contudo, não é nenhuma dessas duas, parece-me, senão esta: por que afinal fazer isso — por que fomentar a ruína da “arquitetura”, e fazer isso justamente na escola de arquitetura?
A resposta a essa pergunta me parece evidente: porque diferentemente do que ocorre no universo da prática, como também no da história e da crítica, é também função da escola colocar em xeque a própria ideia de “arquitetura”; porque se práxis, história e crítica da arquitetura são, por princípio, lugares de reiteração e auto-preservação da “arquitetura”, a escola precisa ser — pelo menos parcialmente — um espaço de risco; porque se a “arquitetura” não for confrontada na escola, é bem provável que não venha a ser confrontada em nenhum outro lugar.
E é justamente por isso que costumo pensar nesses TCCs como legítimas “práticas de reivindicação”, no sentido que a filósofa Isabelle Stengers dá a essa noção. Uma passagem em especial de seu livro Uma outra ciência é possível. Manifesto por uma desaceleração das ciências me vem à mente quando penso em alguns desses trabalhos, e naquilo que move suas autoras e autores quando se põem a fazer coisas que, aos olhos de muitos arquitetos (professores ou não), não têm nada a ver com a “arquitetura”. Nas palavras de Stengers, “ações de reivindicação tem início precisamente onde ocorrem as amputações, ali onde cada prática foi humilhada, separada de seu poder de fazer os praticantes pensar e imaginar” (14).
Ora, se a escola de arquitetura é, como creio, uma das instâncias onde a prática da arquitetura foi e segue sendo separada do poder de fazer seus (futuros) praticantes pensar e imaginar, o TCC é o lugar por excelência para reivindicá-la de volta. Por quê? Porque como acabei percebendo ao longo de mais de duas décadas de orientações, o TCC é (e aqui é preciso falar baixo, fazer disso uma confidência, um segredo que se conta encostando a porta da sala de aula quando se quer falar a alunas e alunos algo verdadeiramente importante), o TCC é um verdadeiro não-lugar acadêmico, quer dizer um espaço que, de algum modo, permaneceu ao abrigo dos inúmeros constrangimentos e protocolos disciplinares que comandam, e por regra constrangem, o que se faz tanto na graduação quanto na pós-graduação em arquitetura.
De fato, não sendo a rigor nem “exercício dirigido” nem “pesquisa acadêmica”, o TCC difere, potencialmente pelo menos, daquilo que se faz tanto nos ateliês de projeto, vale dizer todos os procedimentos que, de um modo ou de outro, emulam o que se faz nos escritórios de arquitetura (não haveria de ser mera coincidência que, em diversos idiomas, palavras como “ateliê”, “studio”, “taller” designam tanto “escritório de arquitetura” como o espaço onde, na escola de arquitetura, se ensina projeto), quanto com o que se faz nos espaços de pesquisa acadêmica, com suas infindáveis demandas de “rigor”, “objetividade”, “impessoalidade”, “enquadramento teórico”, “método”, “sistematicidade”, “referencialidade” — demandas, não custa lembrar, herdadas do cientificismo do século dezenove (15).
Suspenso entre o ensino e a pesquisa; entre, de um lado, o compromisso com a “formação profissional” e, de outro, a “produção de conhecimento”, o TCC se abre para práticas híbridas, impróprias, literalmente indisciplinadas. Práticas que, reivindicando de volta muitas das coisas que a escola de arquitetura se ocupou de banir (por exemplo, o extenso e fertilíssimo campo do ficcional), põem em xeque não apenas as definições correntes de arquitetura, mas uma escola instituída como instrumento de repressão e controle (16).
Anexo — comentários sucintos sobre os TCCs
Leonardo Rebello. Espaços desviados, 2019
A investigação é desenvolvida a partir do estudo da frequência do público masculino/homens em banheiros públicos e aplicativos de encontros, espaços que abrigam atividades homossexuais que não podem ser definidas geograficamente, operando em uma camada sobreposta a cidade interligada através de brechas e aberturas.
Juliana Biancardine. À margem da arquitetura: feminismo e subversão de projeto, 2017
A pesquisa investiga interpretações feministas sobre a origem da arquitetura como disciplina. Parto de uma reflexão sobre os tratados clássicos vitruvianos e sua relação com o binarismo mente-corpo, inserido num conjunto de imagens reproduzidas por uma cultura misógina. Na parte prática da pesquisa, busquei identificar a masculinidade implícita nos atos e dispositivos de projeto que reproduzimos na escola de arquitetura. Com uma chamada aberta, coletei uma série de práticas experimentais de desenho que foram realizadas individual e coletivamente.
Leonardo Filippo. Rio aos pedaços, 2020
Um decreto municipal é instaurado sobre o Rio de Janeiro. A partir da data de sua publicação, tudo o que conhecemos sobre o tempo e o espaço convencionais devem ser desconstruídos. Através de ações sobre a escala, o tempo, o espaço contínuo e a virtualidade no território carioca, pedaços de Rios de Janeiros ocultos começam a aparecer. Aquilo que aparentava ser mera ficção é muito mais real do que acreditávamos. O Rio que conhecemos não é mais o mesmo. Na verdade, nunca foi.
Bruna Alvino. O corpo do bloco, 2021
O trabalho aborda a forma que o corpo se move durante o carnaval de rua independente do Rio de Janeiro, com sua orientação desorientada, ambulante, nômade e errante, construindo uma fantasia em paralelo à vida cotidiana. O momento da evasão, da distração de não se ter consciência para onde se move é o ápice da deriva, é a experiência surreal. Mas para onde o bloco vai?
Carolina Piccolo. Parque Arqueológico Bangu, 2014
O Projeto Parque Arqueológico Bangu surgiu do questionamento sobre as maneiras de intervir na cidade e as formas como o ordenamento e controle do discurso que as antecedem estruturam nossa percepção da realidade e da nossa prática. A ideia foi criar um lugar ausente de sentido comum com o intuito de que realidade e ficção se confundissem, utilizando a ficção como suporte para operar o desvio da lógica normativa que atuamos.
notas
1
Uso a palavra “dispositivo” no sentido de Michel Foucault. Ver AGAMBEN, Giorgio. O que é um dispositivo. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó, Argos, 2009, p. 23–48.
2
ARGAN, Giulio Carlo. Sobre o conceito de tipologia. In NESBITT, Kate. Uma nova agenda para arquitetura. São Paulo, Cosac Naify, 2006, p. 269.
3
ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. São Paulo, Martins Fontes, 2001.
4
Sobre o conceito de “tipo”, ver: PERDIGÃO, Ana Cláudia de Almeida Viana. Considerações sobre o tipo e seu uso em projetos de arquitetura. Arquitextos, ano 10, n. 114.05, São Paulo, Vitruvius, nov. 2009 <https://bit.ly/3TtVfB5>.
5
Entre outros, ver: GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, LCT, 1989; KOSELLECK, Heinhart; MEIER, Christian; GÜNTHER, Horst; ENGELS,Odilo. O conceito de história. São Paulo, Autêntica, 2013.
6
Sobre a resiliência da cultura pós-modernista, ver: LEONIDIO, Otavio. De volta ao pós-modernismo. Thesis, v. 5, n. 10, Rio de Janeiro, Anparq, dez. 2020, p. 102-110 <https://bit.ly/3TD6J5D>.
7
VASARI, Giorgio. Vidas dos artistas. São Paulo, Martins Fontes, 2011, p. 30-31.
8
Sobre a categoria “clássico-moderno”, ver: SUMMERSON, John. A linguagem clássica da arquitetura. São Paulo, Martins Fontes, 1982.
9
Ronaldo Brito fez este comentário em sala de aula, no seminário que conduziu no início dos anos 2000 no Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura da PUC-Rio. Devo a Ronaldo muitas de minhas ideias sobre o conceito de forma serial.
10
Como destacou o crítico e artista minimalista Donald Judd, em 1965, não é que não houvesse “ordem” na serialidade minimalista, apenas se tratava de uma noção alternativa de ordem: “A ordem não é racionalista e subjacente, mas simplesmente ordem, como a da continuidade, uma coisa depois da outra”. JUDD, Donald. Objetos específicos. In FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília (Org). Escritos de artistas, anos 60/70. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2009, p. 102. Tradução modificada pelo autor.
11
NGAI, Sianne. Merely Interesting. Critical Inquiry, v. 34, n. 4 (verão 2008), p. 777-817. <https://bit.ly/3NBVbvn>.
12
Não por acaso, uma das versões mais radicais de forma não-compositiva recebeu na França o nome de “proliferante”, seu principal expoente sendo o arquiteto Jean Renaudie.
13
Tratei deste e de outros aspectos da arquitetura de Lelé em: LEONIDIO, Otavio. Disciplina e liberdade. AU — Arquitetura e Urbanismo, n. 175, 2008, p. 54-55. Ver também: NOBRE, Ana Luiza. Fios cortantes. Projeto e produto, arquitetura e design no Rio de Janeiro (1950-1970). Tese de Doutorado. Rio de Janeiro, Departamento de História PUC-Rio, 2008.
14
STENGERS, Isabelle. ‘Another Science is Possible’: A Plea for Slow Science. Another Science is Possible: A Manifesto for Slow Science. Cambridge, Polity Press, 2018. Tradução do autor.
15
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. Uma arqueologia das ciências humanas. São Paulo, Martins Fontes, 2000.
16
Agradeço a leitura e os comentário de Clara Linhart. Uma versão preliminar e bem mais concisa desse texto foi publicada em: LEONIDIO, Otavio. Contra a arquitetura. In SANCHEZ, Fernanda (Org.). Escola em transe. Série da EAU UFF, n. 4, jul./dez. 2021. Rio de Janeiro, Letra Capital, 2021, p. 125-127 <https://bit.ly/41w6oU7>.