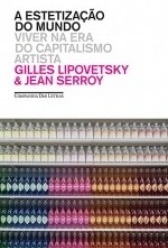A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista é um livro escrito por Gilles Lipovetsky – filósofo autor de outras obras reflexivas como O império do efêmero (1989) e A felicidade paradoxal (2007) – e Jean Serroy – pensador e professor da Universidade de Grenoble autor de livros sobre a literatura no século 17 e cinema – e traduz em 467 páginas e 6 capítulos (O capitalismo artista; As Figuras Inaugurais do Capitalismo Artista; Um mundo design; O império do espetáculo e do divertimento; O estágio estético do consumo; e A sociedade transestética: até onde?) a dura realidade contemporânea, apesar de alguns excessos.
Avessos à ideia de que o capitalismo é uma máquina de decadência estética, os franceses Lipovetsky e Serroy discorrem sobre a Era do capitalismo artista, onde a estetização e o embelezamento do mundo – através do design, do estilo, da renovação das marcas e do redesenho de produtos (e espaços) – soam como dois imperativos de sobrevivência que deverão ser utilizados pelas empresas para prosseguirem em seus mercados.
Se no passado o ambiente da arte era cercado de ritualização e as questões de cunho estético permaneciam presas a determinados meios da sociedade, uma espécie de estetização aristocrática, com o desenrolar da história vivenciamos este movimento de estetização que chegou ao seu píncaro atual: a era transestética. Consumidores cada vez mais sedentos por beleza e estilo nos produtos que adquirem, desde papel higiênico até garrafas de água mineral, e grandes organizações cientes dessa nova ordem buscando incutir arte em suas mercadorias.
Destarte, o capitalismo lança luz aos atributos intangíveis e imateriais, algo que mexe com os sonhos, o imaginário e a sensibilidade, diferentemente da era fordista, onde o foco central era os aspectos materiais e físicos. Este modelo de fabricação que ficou famoso na célebre e quase folclórica frase paradoxal cunhada por Henry Ford, a respeito do modelo T que sua indústria produzia: “o carro é disponível em qualquer cor, contanto que seja preto”, foi substituído por uma abordagem oposta que se consolida no sistema atual, onde meros cozinheiros (criadores culinários) ou simples cabelereiros (hair designers) são vistos como artistas.
Formado o grosso caldo que mistura arte e mercado, a arte sofre um processo de definhamento de seu caráter questionador, quando aspirava transformar a humanidade e discutir sua própria função, sendo agora relegada a um plano menos transcendente e absoluto de, simplesmente, ampliar o consumo das massas e, por conseguinte, a participação de mercados das empresas, a fim de maximizar seus lucros (eis que o capitalismo se reinventa para retornar ao seu cerne: os lucros).
Neste labirinto de consumidores hedonistas e escalada do efêmero, ocorreu no mundo uma disparada vertiginosa nos preços da arte moderna e contemporânea, além da visível banalização da identidade artista. Vitrines mágicas, cenários e mise-em-scène, lojas como catedrais do consumo. Shopping center, moda, espaço kitsch e compras uniformes, locais onde o tempo é suspenso, para tirar daquele que consome a sensação de que o tempo passa e se desenrola.
Se não bastasse isso tudo, cinema e música também se entregam ao consumo em massa apoiados pelo movimento da internet. E por falar em internet, os autores apregoam que até homens de negócios, como Steve Jobs, “são pintados como artistas visionários”, bem como Frank Gehry é aclamado como “arquiteto artista” em várias partes do planeta. Imersos neste mundo transestético, “uma espécie de hiperarte, em que a arte se infiltra nas indústrias, em todos os interstícios do comércio e da vida comum”, consumidores seduzidos se dão por satisfeitos neste universo estético.
A necessidade de “artealizar” e através da estética provocar emoções, é transplantada de produtos para lugares, sendo a arquitetura também diretamente afetada por esse novo realismo que se molda. Como dizem os autores “arquiteturas-espetáculo de tirar o fôlego que redesenham museus, estádios e aeroportos, ilhas artificiais que compõem uma palmeira gigante, galerias comerciais que competem em luxo decorativo, lojas que parecem galerias de arte, hotéis, bares e restaurantes com decorações cada vez mais “tendência”, objetos comuns cuja beleza os transforma quase em peças de coleção”.
É possível lembrar, ao ler a obra francesa, do recente longa-metragem argentino, de Gustavo Taretto, chamado Medianeras e lançado no Brasil em 2011, filme este que retrata de forma exuberante a arquitetura de Buenos Aires e a fragilidade das pessoas que abrigam essa metrópole, onde Mariana (personagem vivida por Pilar López de Ayala) trabalha como decoradora de vitrines, uma profissão resultante dessa Era Artista.
Mas retomando o fio condutor da obra literária, é imperioso asseverar que os autores percorrem toda a trajetória do capitalismo a fim de fundamentar suas premissas assaz fundamentais de que a sociedade do capital se inveterou por um caminho sem volta e terminam o livro destacando alguns efeitos colaterais oriundos dos paradoxos dessa era “transestética”: “tirania” da magreza, aumento de cirurgias plásticas, uso de produtos estimulantes e pílulas da “felicidade”, aumento de estresse, ansiedade e depressão. Como retratam na obra, tornar a vida mais bela sempre foi um ideal da humanidade e o que o capitalismo fez foi se apropriar dessa busca desenfreada para auferir novos lucros.
Ao invés de satanizar esse desenrolar histórico que desembocou no capitalismo artista em voga, apesar de suas ameaças e profundas lacunas, a tarefa central, deixa transparecer os autores, é tentar compreendê-lo, porque, por um lado, democratizou o senso estético e artístico, dado que esses elementos estéticos “não remetem mais a mundinhos periféricos e marginais: integrados nos universos de produção, de comercialização e de comunicação dos bens materiais, eles constituem imensos mercados modelados por gigantes econômicos internacionais”. Todavia, por outro lado, nos lançou num vazio cultural e sem consistência, mesmo diante de obras monumentais, produtos repletos de curvas e ambientes que transmitem emoções visuais, sonoras e sensoriais.
O dilema que rodeou a sociedade da quantidade foi, guardadas as devidas proporções relativas, superado, crescendo no mundo as suplicas e exigências por maior qualidade. Este pode ser o fio condutor motriz capaz de levar a humanidade adiante. Qualidade não só com relação às questões mais comerciais e banais do capitalismo, mas sim com relação à vida como um todo (nosso grande ativo, aliás).
Como bem aduzem Lipovetsky e Serroy:
“Incontáveis são as vozes que se elevam contra as paisagens desfiguradas pela concretagem do litoral; multiplicam-se as associações que denunciam os danos ambientais dos parques eólicos industriais, acusados de destruir a qualidade e a identidade das paisagens. Todos os dias se fortalece o imperativo de preservar encostas e florestas, matas e outras paisagens típicas que constituem a identidade das regiões e são tidas como componente essencial da qualidade de vida. Os indivíduos já não lutam apenas pelo aumento do poder aquisitivo, mas também pela melhora dos elementos constitutivos de um entorno harmonioso e agradável”.
“A beleza salvará o mundo”, propugnou Fiódor Dostoiévski, em O idiota. Será mesmo possível? Os autores sugerem que tal desafio é imenso e deve ser tentado por um novo prisma, seguindo a vereda da qualidade para fins importantes e essenciais como foi enfatizado nos dois parágrafos anteriores, apesar de todos os pesares.
sobre o autor
Thiago Barros é Professor Assistente do Curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Doutorando em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP), é mestre e especialista em Contabilidade e Finanças pela Faculty of Economics of the University of Coimbra (FEUC), com graduação em Administração pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e aperfeiçoamento em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).



![<i>Medianeras, Buenos Aires na era do amor virtual</i>, direção de Gustavo Taretto [Foto divulgação]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/a574af6beb7a_medianeras01.jpg)
![<i>Medianeras, Buenos Aires na era do amor virtual</i>, direção de Gustavo Taretto [Foto divulgação]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/a574af6beb7a_medianeras01.jpg)