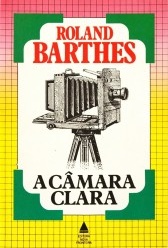Esta é a segunda vez que escrevo sobre fotografia aqui na revista Resenhas Online. Assim como da primeira vez, quando resenhei Sobre fotografia, de Susan Sontag (1), debruço-me agora sobre outro clássico: A câmara clara, de Roland Barthes. Assim como o livro de Sontag, este, do semiologista francês, eu também li há muito tempo (minha edição ainda é a de 1984), e continuo a reler.
Cumpre começar pelo problema de Barthes, o que o move a refletir sobre a fotografia. Em suas próprias palavras: “Em relação à fotografia, eu era tomado de um desejo ‘ontológico’: eu queria saber a qualquer preço o que ela era ‘em si’, por que traço essencial ela se distinguia da comunidade das imagens” (p. 12).
Em seguida ao problema, Barthes apresenta a sua busca de um método. Considerando que desde o primeiro passo, que é o da classificação, a fotografia se esquiva. A seu ver, a fotografia é inclassificável. Perguntando-se a que motivo poderia dever-se essa “desordem”, Barthes explica os motivos da irredutibilidade da fotografia às classificações.
Em primeiro lugar, afirma ter encontrado o que segue: “o que a fotografia reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente”. Na fotografia, prossegue o semiologista francês,
“O acontecimento jamais se sobrepassa para outra coisa: ela reduz sempre o corpus de que tenho necessidade ao corpo que vejo; ela é o Particular absoluto, a Contingência soberana, fosca e um tanto boba, o Tal (tal foto, e não a Foto), em suma a Tique, a Ocasião, o Encontro, o Real, em sua expressão infatigável” (p. 13).
Prosseguindo em seu raciocínio, por natureza a fotografia tem algo de tautológico: nela, para citar o exemplo dado pelo semiologista francês, um cachimbo é sempre um cachimbo, “intransigentemente” (é interessante notar que o historiador Ginzburg, em Olhos de madeira (2), também cita esse exemplo do cachimbo). Barthes considera “que a fotografia sempre traz consigo seu referente, ambos atingidos pela mesma imobilidade amorosa ou fúnebre, no âmago do mundo em movimento: estão colados um ao outro” (nota i, p. 15).
A foto-retrato também é objeto da reflexão de Barthes. Para ele, este tipo de fotos é “um campo cerrado de forças”. Nele, quatro imaginários se cruzam, se afrontam, se deformam. Diante da objetiva, confessa Barthes: “sou ao mesmo tempo: aquele que eu me julgo, aquele que eu gostaria que me julgassem, aquele que o fotógrafo me julga e aquele de que ele se serve para exibir sua arte” (p. 27). Para Barthes, todo grande retratista é um grande mitólogo. Como exemplos, cita Nadar, que fotografou a burguesia francesa, Sander, que fotografou os alemães da Alemanha pré-nazista, e Avedon, que fotografou a classe alta nova-iorquina.
A fotografia é relacionada ao tempo pelo semiologista francês, que diz não achar triste o barulho do tempo, pois gosta dos sinos, dos relógios, e lembra que originalmente o material fotográfico dependida das técnicas da marcenaria e da mecânica de precisão. Assim sendo, em essência, as máquinas eram “relógios de ver” (p. 30).
Prosseguindo por sua atração pela fotografia, Barthes assevera que aventura é a palavra mais apropriada para designar provisoriamente a atração que as fotos exercem sobre ele: “Tal foto me advém, tal outra não” (p. 36). Em seguida, reflete sobre seu relacionamento com a fotografia na condição de “Spectator”. Nessa condição, afirma que só se interessava pela fotografia por sentimento. Desejava aprofundá-la não como um tema, mas sim como uma ferida: “vejo, sinto, portanto noto, olho e penso” (p. 39).
Barthes faz a distinção de Studium para a abordagem da fotografia, no latim, que, como explica: “não quer dizer, pelo menos de imediato, ‘estudo’, mas a aplicação a uma coisa, o gosto por alguém, uma espécie de investimento geral, ardoroso, é verdade, mas sem acuidade particular”. Pois bem, é pelo studium que Barthes afirma se interessar por muitas fotografias, conquanto é culturalmente (e adverte que essa conotação está presente no studium), que participa “das figuras, das caras, dos gestos, dos cenários, das ações” (p. 46).
Uma segunda distinção feita por Barthes para abordar a fotografia, e que vem contrariar o studium, é o punctum. Este vem a ser uma picada, um pequeno buraco, uma pequena mancha, um pequeno corte, e, ainda, um lance de dados. Em suma, para Barthes: “O punctum de uma foto é esse acaso que, nela, me punge (mas também me mortifica, me fere)” (p. 46).
Ao mesmo tempo em que faz distinções para abordar a fotografia, Barthes reflete sobre o que a fotografia distingue por si só. Então considera que num primeiro momento, a fotografia fotografa o notável, para surpreender. Num segundo momento, ela decreta notável ao que quer que seja o fotografado: “O ‘não importa o quê’ se torna então o ponto mais sofisticado do valor” (p. 57). Para Barthes, a subversão também está presente na fotografia, e se apresenta não quando a foto é assustadora, mas, sim, quando a fotografia é pensativa.
Sobre as fotografias de paisagens, sejam urbanas ou campestres, Barthes afirma que devem ser “habitáveis”, e não “visitáveis” (p. 63). Mais ainda, diante das paisagens de sua predileção, Barthes diz acontecer de sentir-se como se estivesse certo de nelas ter estado, ou de a elas dever ir.
Sobre a invenção da fotografia, Barthes discorda da voz corrente que diz que ela foi inventada pelos pintores, que lhe teriam transmitido o enquadramento, a perspectiva albertiana e a óptica da câmera obscura. A concepção bartesiana é a de que os químicos inventaram a fotografia, com a descoberta da sensibilidade dos sais de prata à luz, que permitiu captar e imprimir diretamente os raios luminosos emitidos por um objeto diversamente iluminado. Conclusão bartesiana: “A foto é literalmente uma emanação do referente” (p. 120). Além disso, para Barthes, “a essência da fotografia consiste em ratificar o que ela representa”, e “toda fotografia é um certificado de presença” (p. 129).
Segundo Barthes, as sociedades antigas tentavam fazer com que a lembrança, substituto da vida, fosse eterna. Tentavam fazer com que ao menos o objeto que falasse da morte fosse imortal – eis o monumento –, em sua concepção. A seu ver a sociedade moderna renunciou ao monumento ao fazer da fotografia, mortal, o testemunho geral e natural “daquilo que foi”.
Neste ponto, Barthes assinala um paradoxo: o mesmo século inventou a História e a fotografia. Barthes, todavia, as distingue como segue:
“Mas a História é uma memória fabricada segundo receitas positivas, um puro discurso intelectual que abole o Tempo mítico; e a fotografia é um testemunho seguro, mas fugaz; de modo que, hoje, tudo prepara nossa espécie para essa impotência: não poder mais, em breve, conceber, afetiva ou simbolicamente, a duração: a era da fotografia é também a das revoluções, das contestações, dos atentados, das explosões, em suma, das impaciências, de tudo o que denega o amadurecimento” (p. 139-140).
Imaginem se Barthes tivesse conhecido as mídias sociais, meio onde pululam fotografias, e, mais ainda: aquelas redes eminentemente destinadas à circulação de fotografias, como o Instagram. Não os tendo conhecido, Barthes refere-se a uma “idade da fotografia”, que corresponde à irrupção do privado no público. Ou, antes: “a criação de um novo valor social, que é publicidade do privado: o privado é consumido como tal, publicamente” (p.145). Com essa conclusão, nem é preciso enfatizar a atualidade de A câmara clara no nosso tempo de consumo e difusão fotográfica.
notas
1
LORDELLO, Eliane. Sobre fotografia. O ensaio de uma paixão humaníssima. Resenhas Online, São Paulo, ano 16, n. 169.05, Vitruvius, jan. 2016 <www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/16.169/5912>.
2
Cf. GINZBURG, Carlo. Olhos de madeira. São Paulo, Companhia das Letras, 2001.
sobre a autora
Eliane Lordello, arquiteta e urbanista (UFES,1991), mestre em Arquitetura (UFRJ, 2003), doutora em Desenvolvimento Urbano na área de Conservação Integrada (UFPE, 2008), é arquiteta da Gerência de Memória e Patrimônio da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo.