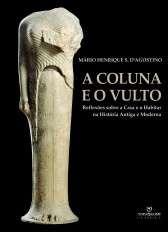Vivemos num mundo pragmático, tecnicista, financista e utilitarista. Um mundo física e mentalmente ordenado por aquilo que ficou conhecido como razão manipulatória, técnica ou instrumental, a qual regula até nosso corpo e nosso ambiente. Esse mundo é o “moderno” e o seu modo de ver as coisas é o de Le Corbusier avaliando a casa, o habitar e as colunas do Parthenon, como sugere o Epílogo deste pequeno, mas precioso, ensaio que o professor Mário D’Agostino e a Annablume Clássica nos oferecem. Em A coluna e o vulto encontramos outro mundo, ordenado por uma geometria simbólica, ética e imaginária que impregna desde os espaços em que habitamos até os nossos corpos e as suas proporções. Essa ampliação do campo semântico da arte de edificar é operada, nesse ensaio, analisando aquele que é o elemento mais emblemático da arquitetura clássica: a coluna, cuja matéria e cuja forma não são feitas apenas daquilo que apalpamos na madeira, na pedra, no cilindro ou nas pirâmides de ontem e de hoje, mas também daquilo que queremos saborear na nossa alma e nos “pétreos arcanos”, dos quais fomos desligados (1).
Desde o século 19, a arché que distingue as construções propriamente “arqui-tectônicas” foi progressivamente subsumida na techné. A técnica fez-se a própria arché. Isso era adequado ao contexto moderno, sobretudo depois da Segunda Guerra, quando os problemas se tornaram mundiais e exigiram dispositivos globais para serem resolvidos. Contudo, tais dispositivos deixaram de ser apropriados e de funcionarem para a construção das culturas, das famílias, dos sujeitos e de sua identidade, liberdade e cidadania. Ao contrário, fomos nós que acabamos sendo apropriados por esses dispositivos e pela racionalidade técnico-instrumental. Quando isso acontece o dispositivo não nos liberta mais, mas nos violenta (2). E a casa e a cidade modernas e contemporâneas, sendo também dispositivos, tornaram-se instrumentos dessa violência “dessubjetivadora” e de um constante “desenraizamento”. D’Agostino nos devolve um tempo arcaico ou arcano onde o valor da casa e da coluna era, ao contrário de Le Corbusier, “providenciar raízes e profundas fundações”, comemorar vínculos consangüíneos, difundir a virtude, sustentar o “lar” e introduzir noções de permanência e fixidez das quais o mundo moderno, “líquido”, movediço e fugaz como um fogo-fátuo tanto carece. O livre-docente da FAU USP e estudioso dos tratados clássicos de arquitetura, o que é raro entre instituições e pesquisadores brasileiros, nos remete ao território da arché quando ele ainda não havia sido absorvido pelo da techné e funcionava como prefixo e princípio desta.
O termo arché tem três sentidos que se interpenetram: origem, comando e princípio ético (3). Os três capítulos que compõem esse ensaio remetem a esses três universos erigidos na história “arcana” e antropomórfica da coluna, investigada por D’Agostino com o rigor, a erudição e a perspicácia que são comuns em suas pesquisas, sempre instigantes por confrontarem nosso presente e nossas práticas com o passado e com os tratados e pela liberdade que esses textos clássicos promovem em nossa mente e em nosso olhar. Depois de uma rápida introdução delineando o que é a compositio na teoria vitruviana e os seus intercâmbios com o corpo humano seguem-se os três capítulos do ensaio. Cada um deles é dedicado a uma categoria e a um sentido que a coluna tomou na história da arquitetura.
No primeiro deles, sobre a “coluna-firmamento”, comparece a arché como “origem”: a coluna é erigida para fundamentar o lar ou altar da casa e da religião quando ela era ainda doméstica e primitiva, como a viu Fustel de Coulanges (4). Ao mesmo tempo, a coluna “olha ou sopra para o céu”, como faz o corpo humano ereto, e preserva o fogo sagrado que torna o lar e os laços familiares tão firmes como os esteios da casa. Analisando literatura, mitos, esculturas, vasos e edificações desde o período micênico grego, como os palácios de Tirynthos e de Pylos (século 14 a.C), D’Agostino prova como a função das colunas ia além dos aspectos de sustentação, ordenação e antropométricos dos edifícios: elas proporcionavam também o enraizamento, a permanência espaço-temporal e a fertilidade da casa e dos seus habitantes. A coluna conferia fundamentos simbólicos à edificação, servia para marcar a posse da terra e providenciava referências de permanência e de estabilidade sem as quais a travessia entre tempos e espaços, como as do deus Hermes, seria impossível. Ela ligava os ínferos aos céus, servia como meio de comunicação entre os vivos e os mortos e permitia a eles se reunirem e manterem-se juntos, como em torno do fogo sagrado doméstico. Ao demonstrar isso, o autor filia-se a uma tradição que envolve também Leon Battista Alberti e Joseph Rykwert (5): edifícios e cidades não são apenas abrigos da humanidade, mas a condição primeira para que a humanidade exista.
A “coluna majestática” é o tema do segundo capítulo e se relaciona com o sentido de “comando” também abrigado na arché. A ênfase, agora, recai na arquitetura, na arte, na mitologia, na política e na cultura da Roma Antiga. Nessa cultura há uma proeminência da persona, cujas imagens difundem-se com ordenação e decoro nos átrios das casas, nos palácios, nos prédios públicos e na cidade. Através dessas imagini, os antepassados continuavam a frequentar e participar do lar doméstico e do lar público. Nelas, eram imantados valores exemplares de conduta, difundidos e aceitos pelos cidadãos e pelos descendentes. Também estátuas de antigas celebridades gregas eram feitas para que com elas os sábios, como Sêneca, continuassem a conviver e a “conversar”. Dessa “procissão de imagens” resulta a columnationis da arquitetura romana – examinada, por exemplo, no Forum Cæsaris de Roma (51 a.C.) – e as colunas sobre as quais eram erguidas as estátuas-retratos, como a coluna honorífica que Otaviano recebeu do Senado (cerca de 30 a.C). A “coluna-firmamento” servia à origem, à fundação e à permanência. A “majestática”, tal como os arcos triunfais, celebra o engenho, a ação, a virtūs romana, os acontecimentos notáveis e as proezas de um Estado que se coloca acima do plano dos mortais. Mas a profusão dessas colunas majestáticas revela também como esse Estado, sobretudo no período tardo-republicano, se corrompe e decai, junto com os costumes: em disputas entre facções políticas e poderes particularistas, em faustos e luxos como nas festas dinásticas, nas grandes colunas privadas e nos mármores importados que algumas residências particulares passaram a ostentar no século I a.C. Aí, então, já não era o proprietário que dignificava a casa, como supunha Cícero, mas o contrário. Perde-se a sobriedade e perde-se o decor e a distributio tão caros a Vitrúvio, a Alberti e a D’Agostino: a magnificência dos edifícios privados começa a rivalizar com as obras públicas e a sobrepor-se a estas. É proveitoso ler a parte final desse segundo capítulo não apenas como uma análise histórica daquele período romano, mas também como uma veemente advertência aos valores (ou falta de) que dominam a produção do espaço urbano e dos edifícios atuais, incapazes de “medirem-se” entre si. Em vez de serem pautados por esse “co-medimento” eles se orientam, ao que parece, para fazer do espaço público a arena onde são projetados mundos privados que digladiam entre si. As causas que arruinaram a república romana são as mesmas que estão a arruinar as nossas. Basta isso para demonstrar a atualidade de A Coluna e o Vulto e o cuidado com que ele deve ser lido.
Mas há ainda um último sentido de arché: o de “princípio ético”, o qual comparece no terceiro capítulo sobre a “coluna virtuosa”. Nele, percorremos a polis e o espaço da ágora, do logos e do ethos humano da época clássica grega. Construir o “co-medimento” entre os homens e construir a justiça que deveria servir à sua sociedade, mais do que aos deuses, foi o projeto comum da retórica, da religião e da filosofia, como as de Sócrates e Platão, analisadas no início do capítulo. Também a busca das verdadeiras e sólidas razões (συμμετρία, “simetria”), e não da pompa e do encanto aparentes, era o projeto da arquitetura, da arte e da educação desse período grego. A base disso era o “decoro” e o direcionamento dos melhores esforços para a construção e para a harmonia do mundo público e comum. Ao reunir os elementos “justos” com competência e com um “severíssimo senso de limite”, como escreve D’Agostino, a arquitetura e o urbanismo são instrumentos para edificar esse mundo e a virtude pretendida por ele, mas que falta aos nossos tempos atuais. Perdemos o senso de limite e perdemos a capacidade de dialogar e de “co-medirmos” entre nós. Desapareceu de nosso horizonte o valor das origens e da permanência e banalizamos nosso universo simbólico, imaginário e real. E transferimos todas essas perdas também para a construção de nossas cidades e edifícios, nos quais múltiplas geometrias e dimensões da existência que antes ressoavam juntas como as notas de um acorde, foram achatadas num plano único pragmático, tecnicista, utilitarista e financista.
Em nosso mundo, as virtudes são consideradas vícios e os vícios, virtudes. Nele, o que é relevante para nós e para nossas ações, inclusive as edilícias, foi tornado irrelevante e o que é irrelevante adquiriu importância capital. A coluna e o vulto é um dos poucos trabalhos que questiona esse estado das coisas e a forma mentis atual. Ele nos descortina uma arché que se encontra velada, mas sem a qual a “arqui-tectura” é substituída por seu simulacro, e nos convida a prosseguir essa tarefa. É uma tarefa árdua, pois nosso tempo, tão moderno e avesso aos arcanos, lhe é extremamente hostil. Contudo, basta ver uma coluna a suportar a viga sobre si para que perseveremos em prossegui-la: quanto maior a carga a ser suportada, mais ereta e firme se faz a coluna que a sustenta. Essa mensagem é o que ornamenta todo esse belo ensaio de D’Agostino.

Fragmento de relevo proveniente de Ara pietatis Augustæ, representando um sacrifício diante do templo octástilo de Marte Ultor. No frontão figuram Marte (ao centro) ladeado por Venus (à esquerda) e Fortuna (à direita), 22 c. Mármore, templo com 144 ×98 cm
Imagem divulgação
notas
1
Essa minha resenha integra a produção de pesquisa desenvolvida com apoio de bolsa do CNPq, ao qual agradecemos.
2
Sobre o “dispositivo”. Cf. AGAMBEN, Giorgio. O que é um dispositivo? In: O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó, Argos, 2009. p. 25-151.
3
Cf. PAYOT, Daniel. Le Philosophe et l’Architecte. Paris, Aubier Montaigne, 1982; BRANDÃO, Carlos Antonio Leite. A formação do homem moderno vista através da arquitetura. Belo Horizonte, UFMG, 1999.
4
COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. São Paulo, Martins Fontes, 2004.
5
É do professor Mário D’Agostino, por exemplo, o prólogo à edição brasileira de” RYKWERT, Joseph. A casa de Adão no paraíso. São Paulo, Perspectiva, 2003.
sobre o autor
Carlos Antonio Leite Brandão é arquiteto (UFMG, 1981), mestre e doutor em Filosofia (UFMG, 1987 e 1997), especialista em Cultura e Arte Barroca (UFOP, 1985) e pós-doutorado (estágio sênior) junto à Fundation Maison des Sciences de l’Homme e École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris, 2010, bolsa Capes). Atualmente, é professor titular da UFMG e pesquisador do CNPq.



![Cratera figurando Orestes abraçado ao ὀμφαλός no interior do Oráculo de Delphos, com Electra, Apolo e Ártemis, meados do séc. IV a.C. Terra cota, 90 cm (H)<br />Imagem divulgação [Napoli, Museo Archeologico Nazionale]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/1bc7bee30e6a_maique2.jpg)
![Cratera figurando Orestes abraçado ao ὀμφαλός no interior do Oráculo de Delphos, com Electra, Apolo e Ártemis, meados do séc. IV a.C. Terra cota, 90 cm (H)<br />Imagem divulgação [Napoli, Museo Archeologico Nazionale]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/1bc7bee30e6a_maique2.jpg)