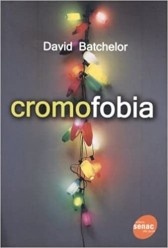Ordnung der Farbenclasse, ilustração colorida à mão de Ignaz Schiffermüller, experimento de um sistema de cores, Viena, 1772
Imagem divulgação
Em seus cinco breves capítulos, o livro aborda o quanto a cor é preterida e relegada a um segundo plano por uns e bendita e libertadora para outros tantos; sob as várias óticas que perpassam épocas, culturas, sociedades, mídias e pensadores distintos.
O autor tece suas considerações bem particulares, à medida que evoca referências que vão desde o cinema, obras literárias (em sua ampla maioria europeias), sexualidade, música, moda, psicologia e uso de narcóticos; citando nomes como Baudelaire, Umberto Eco, Imannuel Kant, Le Corbusier, entre outros.
A sua abordagem mostra a cor divergente no ocidente moderno. Libertadora, inebriante, animalesca, primitiva, feminina, infantil e; em último caso, como descortinadora de aspectos íntimos do indivíduo. Tudo o que se tenta esconder vem à superfície sob a forma simbólica da cor.
Em seu primeiro capítulo Paisagens em branco, narra sua experiência pessoal em casa de um amigo, apresentando seu confrontamento ao ambiente surrealmente branco do interior do imóvel em contraste ao seu exterior classicamente prosaico. Ao comparar o referido ambiente a ‘um ovo visto por dentro’ tal como em uma epifania, ele julga-se ínfimo em relação à brancura austera e acusatória da casa; de um branco que não alveja, mas é ele o próprio alvejar, agressivo e superior, repelindo o que seja a ele inferior.
A partir de então, Batchelor inicia uma reflexão sobre a singularização do preto, cinza e, especialmente do branco a “um patamar alto entre a Terra e o céu”, em detrimento de uma vulgarização do colorido vívido e mundano, elaborando pontes entre textos literários, movimentos artísticos como o classicismo, minimalismo e filmes nos quais as cores aparecem meramente cosméticas, ilusionistas e em maior profundidade, impuras em todos os significados, incapazes de dividir o mesmo espaço com a limpidez. Desta forma, comparativamente, o branco não se apresenta como uma cor qualquer, mas quase como um ente.
Em seu segundo capítulo Cromofobia, partindo da dicotomia identificada como o branco/pureza versus as demais cores/artifício; o raciocínio segue o teor do questionamento considerando que, se a cor é algo irrelevante, por que seria tão relevante a sua supressão/eliminação? O pensamento se volta para possíveis origens do ‘culto’ ao objeto de análise do capitulo anterior – o branco, e para a marginalização do uso das cores, revisitando alguns conceitos disseminados ao longo do tempo na cultura ocidental. Evocando Blanc, Aristóteles, Rousseau, Baudelaire, entre outros; Batchelor percebe que a cor é vista como algo fora da realidade, distante e perigosa, marginal, indigna de ser levada em consideração. Exalta-se a primazia da ‘clareza’ em todos os seus aspectos, do divino, do masculino da linha, da forma, relegando às cores o segundo plano, terreno, feminino e entorpecente. A cor é identificada nos conceitos levantados como ‘agente perigoso’ e, portanto, deve ser contida.
O seu terceiro capítulo, Apocalypstick, aborda a cor como o cosmético das coisas efêmeras, revestindo superfícies e encobrindo as suas verdadeiras faces, tornando-se a causa de uma súbita ruptura com o real, o que é denominado de “a Queda”. Tal denominação refere-se à comparação da sensação do ilusório, superficial e efêmero, manipulador e desonesto dos cosméticos e das drogas, e por analogia, do feminino. Neste contexto, o ser considerado colorido é simultaneamente, exaltar e abater, atribuindo à sexualidade gamas tonais em função de sua vertente.
A artificialidade da cor cosmética, ora encobrindo e frustrando a realidade, mascarando-a; ora exaltando a opulência, as nuances tonais e desnudando a representação da realidade grotesca da vida como ela é, cheia de sangue vermelho, girassóis amarelos, céu azul e assim por diante. O autor segue conjecturando que “somente na literatura e no cinema podemos vislumbrar um mundo sem cor; fora isso, na nossa vida diária e nos nossos sonhos estamos presos a ela. Não estamos apenas cercados de cor; nós somos cor” (p. 85).
Segue-se o entendimento que cor é tão complexa quanto à própria humanidade que a interpreta; um pouco mais, um pouco menos mas nunca neutra. Diante da parcialidade das abordagens, nos é apresentado um valor positivo da cor na cromofilia em contraponto ao da cromofobia – o que o autor denomina “alteridade da cor”: por uns, acentuada, por outros atenuada; porém nunca ignorada.
Em seu quarto capítulo Hanunoo, o maior dentre os cinco – a associação entre cor e pedras preciosas recebe um contorno onírico, citando Huxley quando este considera o céu como sendo “invariavelmente uma jazida”, apesar de não se tratar de seus reais valores e quilatagem, mas sim das suas cores, unindo como que por essência natural a cor primeva e ancestral ao aspecto puro, não desfigurado pelo homem, presente nas gemas. O caminho do texto passa pelas considerações de Klein que, assim como Huxley, cria que a cor seria o reflexo do “virginal paraíso terreno”; à semelhança de Birren, Baudelaire, Blanc, Kierkegaard, para os quais as cores – e não o branco – eram o reflexo da verdadeira pureza, presente no Éden, no imaginário infantil, nas visões produzidas pelos narcóticos e alheias ao consciente, sugerindo que à medida que o indivíduo amadurece perde sua sensibilidade às cores.
A análise segue no campo da linguística e assume uma postura divergente da opinião contemporânea, que atribui à cor caráter de linguagem. São citados Riley, Melville, Kristeva e Lichestein, que corroboram na ideia de limitação da abordagem semiológica da cor como linguagem por não sugerir algo similar referente a cor dentre os elementos linguísticos de alguma comunidade.
A reflexão prossegue a respeito do entendimento da cor no aspecto cultural. Esta passa a ser um ente, algo que não pode ser verbalizado com os conhecimentos linguísticos, e nem dividido, pois trata-se de algo fluido, amorfo. Contudo, em seu trabalho de subjugar a cor, o homem quebra conceitualmente o ente ‘cor’ em ‘cores’, de duas formas: uma verbal, e a outra, visual. No âmbito verbal, Batchelor segue fazendo analogias sobre as etimologias dos nomes das cores e de como essas assumem o caráter daquelas outras; até chegar ao exemplo do grupo que dá nome ao capítulo: os hanunoo, um grupo aborígene para os quais a nomenclatura das cores é tão somente vinculada à cultura e inexiste seu sentido abstrato. A reflexão do autor é de que o entendimento das cores de forma independente e particionada é em si mesma um hábito cultural e linguístico, contingente, e não uma ocorrência universal.
Em seu quinto e último capítulo Cromofilia, o autor admite ter tomado outro rumo em relação à escrita e defende a preservação da estranheza da cor; sua alteridade, se esforçando para distanciar-se de sua domesticação, tratada anteriormente no terceiro capitulo. As observações se estreitam rumo ao meio físico da pintura, à tinta propriamente dita e ao ato de pintar a partir da década de 1960 do século 20; e a evolução dos pigmentos como ponto de partida para uma nova forma de exposição da pintura, o que ele defende como sendo uma espécie de híbrido entre a arte pura e a não-arte, um meio termo entre os dois extremos.
Nesse contexto, o primitivo e gutural em relação à cor prevalecem de tal maneira que nada mais é necessário a não ser a cor pura, tomando e ocupando os espaços de modo livre, em excessos, em derramamentos e sobreposições, nas quais sua saturação vinha a desfigurar a forma, desestruturando-a, deslocando-a de seus suportes de modo a distanciar-se da pintura convencional. A cor começaria a recuperar seu excesso e apresentar-se tal como é, e a ocupar o lugar da pintura clássica, tal como defendem os seus admiradores, os cromofílicos.
Por fim, o autor considera que, apesar das sobreposições de conceitos através dos tempos, uma ideia sedimentada do uso das cores permanece na sociedade: a que defende a cosmética do alvaiade, do branco, para caiar a complexidade e corrupção da cultura na qual está imersa. Para a sociedade, a onipresença das cores ao invés de elevá-las, as reduz a algo vulgar; e o irreal de uma vida em preto-e-branco torna-se o ideal da verdade.
Segundo Bachelor, a sua ideia original era escrever um livro sobre arte, mas ele adverte o leitor que as coisas tomaram uma outra direção durante o percurso. Essa advertência inicia o último capítulo e levam o leitor a entendê-la como um mea culpa a despeito da clara diferença na fluência da argumentação e alteridade idearia do início para o final do livro. Ainda, pode-se perceber a presença de referências e pontos de vista tão somente ocidentais, leia-se: europeus e poucos norte-americanos nas fontes citadas; salvo exemplos pontuais de comunidades nativas, ignorando solenemente os discursos da cor no Oriente e América Latina (pois a cor não tem ‘berço’) e a sua abordagem no âmbito racial e suas implicações na arte, e vice-versa.
Ademais, e isto tem sua relevância reconhecida, o artista se limita a fazer um recorte panorâmico válido do seu entorno, elaborando reflexões sobre aspectos diversos da utilização e do pensamento a respeito da cor/cores; apresentando a dualidade dos pensamentos ideário e real da cor na sociedade, abordando alguns temas como o uso de drogas, opção sexual e de gênero e a loucura, de um modo sintético a despeito de suas considerações e quantidade de citações advindas de áreas aparentemente diversas, interrelacionadas à cor e seus efeitos.
sobre a autora
Imara Duarte é graduada em Desenho Industrial (UFCG) e em Ciências Contábeis (UEPB), mestre em Design (UFCG) e doutora em Arquitetura e Urbanismo (UFPB). É membro dos grupos de pesquisa “Ambiances Réseau International Ambiances”, “AIC Study Group on Environmental Colour Design”, “Estudos da cor” e “Qualidade, acessibilidade, tecnologia e percepção do ambiente construído”.