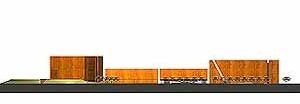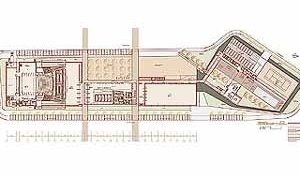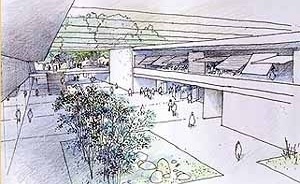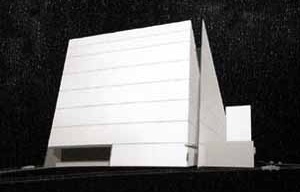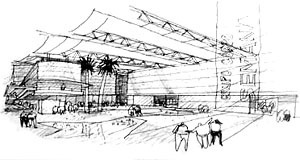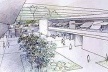Quando surgiu o convite para este debate, pensei muito em como poderia abordar a enorme quantidade de projetos sem me restringir a lugares-comuns. Decidi que seria melhor eleger um tema ou um problema que considerasse relevante para a Arquitetura atual e procurar saber específicamente se e como os projetos se posicionam em relação a tal tema. Cabe aí a ressalva de que essa talvez não seja a melhor atitude para alguém que assume o papel de crítico. Projetos arquitetônicos devem ser avaliados, antes de mais nada, pela consistência em relação aos seus próprios pressupostos ou em relação à lógica que eles mesmos estabelecem. Avaliá-los por critérios externos, pela sua coincidência com um determinado tipo de abordagem ou pela sua contribuição a uma certa tendência seria uma estupidez. Mas, neste caso, como não se tratava de comentar ou analisar um projeto específico e sim um universo bastante amplo de propostas, considerei que seria legítimo partir declaradamente de uma indagação prévia. Começo portanto com uma breve explicação do tema específico que me ocupa já há algum tempo e cuja constelação procurei nos projetos.
Mutabilidade
Qual é o modo mais comum de engendramos a situação inicial de projetos arquitetônicos? Normalmente, alguém – arquiteto ou não – detecta alguma espécie de carência cujo remédio acredita ser a geração ou modificação de espaços construídos. Essa carência e as atividades e os significados de toda ordem que ela envolve são então congelados no tempo e analisados. A análise pode partir da coleta minuciosa e aparentemente objetiva de dados ou partir mais da imaginação de quem a faz, mas, de um jeito ou de outro, ela costuma desembocar na formulação do chamado ‘programa de necessidades’. Em seguida, elaboram-se as configurações supostamente condizentes com o programa e expressas por fluxogramas, setorizações, dimensionamentos, etc.
Como acabei de dizer, os programas são hipóteses extraídas de instantes de tempo congelados. E esse tempo congelado no qual o programa se fundamenta é uma abstração. Subtrai-se de uma situação empírica a maior parte das transformações ou mutações a que ela está sujeita. Pensa-se com muita objetividade, mas há apenas tênues resquícios do objeto nesses raciocínios. O objeto real em que o projeto incide – seja a situação de um indivíduo, seja a de um grupo ou de uma cidade inteira – não persiste como era no instante do congelamento. Nesse sentido, o programa também é uma hipóstase, uma ficção ou abstração falsamente considerada real.
Esse fenômeno pode ser menos evidente em projetos simples, embora também aí envolva coerções. Mas, nos projetos mais complexos ele é escancarado, pois com muito raras exceções tais projetos se tornam obsoletos antes mesmo de sua conclusão (e cada vez mais rapidamente). Não só demandas de equipamentos e dimensões mudam, mas sobretudo as articulações coletivas, as atividades, seus modos de organização e os significados a elas associados. Quando o projeto termina, ele foi ultrapassado pelas circunstâncias às quais deveria servir. Creio que quase todos os arquitetos atuantes já tenham sentido isso na pele, talvez até em coisas simples como reformas domésticas: os humores mudam, as relações entre as pessoas mudam, nascem uns, morrem outros e, em meio a esse caos da vida, o projeto feito para um instante congelado está sempre em colisão com a medida dos usos e das apropriações efetivas. Se isso é um problema comum, inevitável – e até certo ponto óbvio –, parece estranho que os arquitetos continuem operando do modo acima descrito, especialmente num contexto histórico de mutações cada vez mais rápidas e de recursos cada vez mais escassos.
Poderíamos imaginar que o hiato seja superado com a noção da flexibilidade. No entanto, flexibilidade é um termo viciado, que faz referência a uma concepção totalmente infrutífera para o problema a que me refiro. ‘Flexível’ nos remete à substituição de alvenaria por divisórias leves, a estruturas moduladas, a panos de vidro, mobiliário padronizados, andares corridos e espaços desérticos. A chamada flexibilidade muitas vezes não passa de um transtorno, pois as possibilidades de mutações ser reduzem a deslocamentos de poucos elementos, que exigem intervenção profissional e raras vezes afetam circulações, articulações ou expressões dos espaços.
Pensando nisso, talvez fosse pertinente experimentarmos projetos com possibilidades de múltiplas mutações ao longo do tempo; ou seja, espaços em cuja concepção se tenta incluir mudanças constantes de configurações imprevistas e projetos que sejam capazes de acumular, ao longo do tempo, certos registros dos seus vários estados. Prefiro o termo mutabilidade ao termo flexibilidade, porque algo em mutação tem sempre estados determinados, definidos. O ser mutante não é amorfo: ele salta de uma forma e para outra.
Quebra-cabeça e interpretação
Eis então o tema que decidi procurar nos projetos da Sede do Grupo Corpo. Queria saber como os arquitetos participantes se posicionariam em relação a esse tema e como reagiram a um edital com um programa minuciosamente ditado, fruto daquele tipo de congelamento ao qual me referi antes. Para aprofundar um pouco mais a ‘caça’, li boa parte das conceituações, isto é, dos textos que deveriam registrar a interpretação que cada arquiteto ou equipe elaborou para a situação que lhes foi dada.
Fiquei surpresa diante da escassez de abordagens críticas da nossa estratégia mais comum de projeto. Houve quem acrescentasse ou retirasse itens do programa, mas isso não implica uma crítica do método que está na base da formulação do edital do concurso. Ampliar ou reduzir o programa é como dizer que houve equívocos na leitura daquele instante congelado do qual o edital partiu, mas não significa dissolver o próprio congelamento (é claro que também nesse sentido há exceções entre os projetos, e aliás muito interessantes.) Tem-se a impressão de que grande parte das propostas simplesmente se submeteu às diretrizes dadas. Essa impressão é ainda reforçada pelo fato de quase todas as conceituações serem muito semelhantes entre si, muito próximas às diretivas do edital e repletas de generalidades que se aplicariam a qualquer projeto. Por que esses discursos tão pouco específicos?
Existe um livro de Bryan Lawson, chamado How Designers Think. Lá pelo fim do livro há um capítulo intitulado “As armadilhas do desenho”. E uma das armadilhas descritas por Lawson chama-se “a armadilha do quebra-cabeça”. A idéia é mais ou menos a seguinte: embora o desenho não seja um quebra-cabeça, pois ele nunca tem uma única solução correta, os arquitetos costumam transformá-lo nisso. Todos temos um certo prazer no quebra-cabeça: enquanto está sendo montado vê-se claramente o desenvolvimento, o avanço; e quando ele termina parece que alguma coisa foi de fato resolvida, concluída, fechada. Então talvez seja natural que tentemos reproduzir esse prazer também nos projetos, impondo a eles, de saída, uma série de condicionantes que não têm razão de ser, mas que nos dão a segurança de um problema bem delimitado. No extremo, isso leva a situações em que o arquiteto se vê horas ou dias obcecado em resolver um encaixe de cômodos e equipamentos num espaço rigidamente fixado e, quando consegue realizá-lo, pensa que fez um bom trabalho. Na verdade, ele nada mais fez do que resolver um problema inexistente. De certo modo, é como se todo projeto fosse transformado num projeto de reforma. (Não é incomum ouvirmos as pessoas dizerem projetos em terrenos amplos, sem problemas graves e sem maiores restrições são os mais difíceis).
Contrapõe-se a essa atitude do quebra-cabeça a atitude interpretativa. O arquiteto recebe um amontoado de dados sobre o terreno, o contexto social, as normas explícitas e as não escritas, os usos esperados, as técnicas possíveis. Esses dados chegam de forma alógica, ou seja, sem ordem e por vezes com contradições entre si. O projeto parte da interpretação desse amontoado, em que se põem pesos relativos nos seus elementos. Só a partir dessa interpretação pode ser gerado algo como uma concepção espacial inicial ou um ‘conceito’. O que me parece ter acontecido nos projetos da Sede do Grupo Corpo (e que não deixa de ser reflexo também dos métodos de ensino que temos praticado), é que o edital não foi formulado e nem entendido como esse monte alógico de dados, mas já como a sua interpretação prévia. Muitos participantes se sentiram dispensados dessa interpretação; o que esvazia inteiramente o passo seguinte do projeto. Esse passo consistiria em elaborar uma concepção não mais apenas discursiva, mas a meio caminho entre o discurso conceitual e as qualidades espaciais concretas possivelmente relacionadas a esse discurso. Sem a interpretação incisiva, surgem os textos que fazem pouquíssima referência aos projetos propriamente ditos e se movem no terreno das considerações genéricas, em que nada é pontuado especificamente, em que tudo tem o mesmo peso.
Essa constelação de projeto, que parte da sujeição a uma interpretação dada, reduz também em muito o entendimento que se tem da noção de ‘forma’. Em lugar de produto ou resposta a uma certa situação, a forma passa a ser um dos quesitos do projeto, ao lado da correção técnica e normativa, do contexto físico e cultural e dos usos e ações esperados. Em lugar de modo de organização de elementos espaciais e materiais, a forma se torna casca, contorno, perfil, formato, shape, e – o que é pior – aquela porção do projeto que se encarregaria da chamada ‘beleza’. E como se estrutura esse formato?
Como já foi dito aqui antes, as conceituações estão recheadas de metáforas do corpo, da dança e do movimento, cuja incidência nos espaços projetados é quase nula. O corpo é, por exemplo, dissecado em tronco e membros, ou em ossatura, músculos e pele, postos então em analogia com os elementos ou as camadas de uma arquitetura. Ora, o tipo de representação que essa analogia tem por pressuposto não nos diz mais respeito. Talvez fosse possível operar assim no século XVIII, mas, hoje, a arquitetura não é lida dessa forma nem pelos próprios arquitetos. A rigor, trata-se de uma situação em que o objeto precisaria de uma legenda permanente para que fizesse algum sentido.
Parece-me que, em muitos casos, tais metáforas do corpo, da dança ou do movimento servem somente à estruturação da forma enquanto formato ou shape, que não tem muita ligação com a lógica de organização dos espaços. Enquanto o quebra-cabeça das funcionalidades é montado a partir de um programa rígido, o quebra-cabeça das formalidades é montado a partir de metáforas. Elas seriam frutíferas se estivessem de fato no lugar de uma concepção inicial do espaço baseada numa interpretação específica da situação. Nesse caso, termos como ‘movimento’, ‘corpo’ ou ‘dança’, talvez pudessem se refletir nos modos de organização: não por representações vagas e de leitura improvável, mas pela dinâmica real neles implicada. Movimentos, em arquitetura, talvez não sejam mais os formatos curvos ou fragmentados, mas elementos realmente móveis; o corpo talvez não se represente mais pelas suas proporções ou pelo delineamento de suas partes, mas pela relação sensível com os objetos e pelo fato de perecer.
notas
1
O texto que se segue foi escrito por ocasião de um debate intitulado “Panorama da Arquitetura no Brasil”, realizado na Escola de Arquitetura da UFMG, na semana anterior à divulgação do resultado final do Concurso do Centro de Arte Corpo. Tratava-se de discutir os projetos apresentados nesse concurso, enquanto amostragem significativa das idéias produzidas na arquitetura brasileira hoje.
sobre o autor
Silke Kapp é arquiteta, doutora em Filosofia da Arte pela Universidade Federal de Minas Gerais e professora da PUC-MG