Este texto carece de sentido, e até mesmo sua existência é questionável. Qualquer tentativa de compreender o sentido do espaço, percorrendo esses estranhos lugares em busca de um sentido, só pode resultar numa tola incursão.
Normalmente, atribuímos existência aos espaços e às coisas, mas na realidade, sem nós, elas não existiriam. Pensar um espaço como existente, significa pensar em si próprio.
Infelizmente, na exigência da objetividade, acabamos por abstrair os espaços, as coisas e, conseqüentemente, nossa própria existência.
Gabriel Marcel, certa vez disse: “Quanto mais eu acentuar a objetividade das coisas, cortando o cordão umbilical que liga à minha existência, mais converterei este mundo num espetáculo sentido como ilusório” (2).
Para os existencialistas a existência precede a essência. Em termos filosóficos todo objeto tem uma existência, um sentido e uma essência. E essa essência é o próprio sentido, ou vice-versa. Entretanto, muitas pessoas crêem que a essência vem antes da existência. Essa idéia tem sua origem no pensamento religioso do século XVIII quando se acreditava na existência de uma essência natural, um sentido para os homens como natureza humana e, por exemplo, conceitos inatos do que deveria ser uma casa, uma praça, uma escola, etc. O que derivaria, posteriormente, na teoria dos tipos e fenótipos, na cruel teoria determinista do caráter em psicologia.
Exemplificando, Sartre em O ser e o nada, explicou esse falso sentido da natureza determinista, ironicamente, citando o caso das ervilhas e dos pepinos:
“Muitas pessoas crêem que as ervilhas, por exemplo, se arredondam conforme a idéia de ervilha e os pepininhos, são pepininhos, porque participam da essência de pepininho. Não é a idéia, a essência, o sentido, o significado inato que atua sobre a ervilha a fim de arredondá-la, sobre o pepino a fim de alongá-lo, mas sim o organizador dos embriões ou qualquer outro agente misterioso” (3).
E no caso da casa, da arquitetura e do espaço: o arquiteto. Daí a grande inclinação do arquiteto em se tornar um demiurgo, pois ele é diretamente responsável não só pela materialidade da coisa, da existência da arquitetura, mas também porque manipula conscientemente ou inconscientemente essa pseudo-essência ou sentido, que normalmente creditamos à arquitetura e à sua autonomia.
Para os que acreditam na criação divina ou no mito do darwinismo, tudo que vive no mundo da matéria explica-se pelos antecedentes imediatos até os mais longínquos. A essência do vivente está por assim dizer no germe, em sua raiz. E que uma forma é pré-determinada por uma anterior, isto é, o que podemos chamar de determinismo arquitetônico. Com uma certa freqüência encontramos nos livros de história da arquitetura a árvore genealógica da arquitetura ocidental com suas raízes e troncos nas arquiteturas egípcia, grega ou mesopotâmica. Podemos observar o mito do darwinismo arquitetônico também na proposição do Abade Laugier, no século XIX, remetendo à origem dos tipos arquitetônicos à cabana primitiva, à tenda árabe, entre outros.
Essa tem sido a trajetória do sentido do espaço, ou seja: o sentido remete-se a uma origem mais ou menos perdida, seja divina ou humana.
Não existe uma essência a priori, segundo os existencialistas. A essência do ser humano está suspensa na sua liberdade, em seu projeto, em sua possibilidade, por assim dizer, de sua construção. Para eles a origem, a existência humana é algo totalmente sem sentido, e o sentido é sempre produzido, inventado e reinventado.
Talvez fosse melhor ver o espaço arquitetônico apenas como um estado de uma situação em constante mudança. A construção de um nada que vem a ser um projeto, um envio.
Só ao se tornar ‘para mim’ o espaço recebe um significado, um sentido. O espaço ‘para mim’ ao contrário do espaço em si, só existe porque estou aqui. Nós não dependemos dele; ele é quem depende de nós, e sem nós nada seria.
O sentido do espaço só existe a partir da experiência do ‘eu’; portanto, o sentido do espaço da arquitetura não está no interior da abstração do espaço, no interior da arquitetura, na relação utilitária entre o cheio e o vazio, e tampouco nas entranhas das paredes. Qualquer sentido que se possa atribuir está fora dele, muito além de sua superfície. Está no interior de quem o vivencia, está nas pessoas que nele se deslocam constantemente. Curiosamente transportamos o sentido do espaço para qualquer lugar que formos.
O espaço não é, como crê a maioria dos arquitetos, uma realidade rígida e válida para todos. Ele em si é tão plástico e imaterial como o próprio tempo, variando com os indivíduos, com os povos, com as épocas, e, principalmente, com os pontos de vistas. Não existe um espaço objetivo e autônomo do ser humano. Existem diferentes maneiras de perceber e compreender esse espaço ‘bruto’, lá fora, sem significação, a espera de minha chegada. Por exemplo, desse mesmo espaço podemos produzir as mais diversas representações, como a do pintor, do arquiteto, do fotógrafo, do engenheiro, do médico etc. Mas certamente, a somatória deles nunca retratará a experiência de cada um, apenas ampliará seus sentidos, mostrando a existência de diversos pontos de vista.
A fenomenologia tem tratado a questão do espaço a partir do eu, da dimensão corporal, resgatando as orientações do acima-abaixo, frente-trás, esquerda-direita, mas colocando o papel do homem numa profundidade corporal também questionável. Mais precisamente a Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty se contrapôs à concepção espacial cartesiana, abstrata, indiferenciada, uma espécie de plano regular, homogêneo, onde se dispõem todos os corpos. Merleau-Ponty nos fez ver que o corpo é a nossa principal referência espacial e que o espaço deve ser compreendido não só a partir dele, mas também como uma extensão do próprio corpo. Essa compreensão fenomenológica do espaço apoiou-se na experiência corporal e vivencial, abrindo espaço para incorporar também os estudos de Piaget. A partir dos anos 60-70 alguns teóricos da arquitetura aportaram uma grande contribuição para esse tipo de visão do espaço. Nesse sentido é que foram produzidos os trabalhos principalmente de C. N. Schulz, J. Muntañola, Charles Moore, Kevin Lynch entre outros (4).
Os objetos, os espaços e a arquitetura, servem-nos apenas de instrumentos. Caso não tenham nenhuma relação com o nosso desígnio, permanecem no estado de existentes brutos: são como se não existissem. Os espaços que nós visualizamos, quando deixam de ser usados, vivenciados, voltam ao estado de ser bruto, esvaziado. Mas seus múltiplos significados, seus sentidos, nós transportamos.
Existe uma passagem de Paul Foulquié em O Existencialismo, na qual narra a transformação do ‘eu’ em representação, de seu esvaziamento quando percebe sua própria existência.
“Estou no jardim público da álea de castanheiros, contemplo o verde relvado em cujo centro se ergue uma estátua: tudo isso existe para mim. Mas de súbito um outro passeante detém-se a contemplar esse espetáculo que também engloba a minha pessoa. Imediatamente a minha representação que é para mim o verdadeiro mundo se desagrega e seus elementos se organizam em torno do recém chegado; agora, é para ele que tudo isto existe (...). Não só o relvado, a estátua, o banco, a sebe organizam-se em torno dele como instrumentos de seus desígnios ou como obstáculos: eu também me acho classificado entre as coisas, reduzido ao papel de meio, de representação, para realizar os fins de outrem” (5).
Quando as coisas começam a nos olhar, explicou Leyla Perrone-Moisés ao descrever os distintos modos de ver do poeta Fernando Pessoa, estamos experimentando não o mistério do conhecimento, mas o mistério do desconhecimento. É aquela experiência do inconsciente que Freud conceituou como unheimlich (a inquietante estranheza) e que, quando deixa de ser eventual, passa a permanente, se chama loucura, psicose. Ver-se vendo, olhar-se olhando, é deixar de olhar e de ver o que se olha e vê fora de si, para tentar captar, no sentido inverso, o próprio ponto de onde o sujeito olha. O resultado dessa operação, além da perda do objeto exterior, é o eclipse do próprio sujeito, que topa com o ponto cego da consciência tentando captar-se a si mesma como objeto (6).
Nessa situação “tudo parece oco”, como disse Fernando Pessoa.
Sempre que se fala nesses clichês conceituais: sentido do espaço, sentido da arquitetura, ou significado da arquitetura, me lembro do divertido e lúcido filme do Monty Python, O Sentido da Vida, no qual eles passam o filme todo procurando o sentido ou significado da vida como se fosse um objeto, sem nunca encontrá-lo.
“É difícil responder àqueles que julgam suficiente haver palavras, coisas, imagens e idéias. Pois não podemos nem mesmo dizer, a respeito do sentido, que ele exista: Nem nas coisas, nem no espírito, nem como uma existência física, nem com uma existência mental” (7).
A busca de um sentido das coisas e do espaço é todo um sem-sentido, e qualquer tentativa em compreender, deve passar pela lógica do non-sense. O sentido não vive sem o sem-sentido, pois justamente é ele que alimenta o sentido.
Deleuze em a Lógica do sentido mostrou que “O não senso e o sentido acabam com sua relação de oposição dinâmica, para entrar na co-presença de uma gênese estática, como não-senso da superfície e sentido que desliza sobre ela” (8).
“O bom senso se diz de uma direção: ele é senso único. Exprime a existência de uma ordem de acordo com a qual é preciso escolher uma direção e se fixar a ela” (9). O non-sense: é o que destrói esse bom senso, o sentido único, o senso.
Se pensarmos no sentido como orientação, temos seu oposto, a desorientação. Deleuze encontrou esse universo desorientador em Lewis Carrol.
“Em que sentido, em que sentido?”, perguntava Alice. Essa pergunta não tem resposta nem sentido porque é próprio do sentido não ter direção, orientação, não ter bom sentido, mas sempre as duas ao mesmo tempo (10).
A desorientação é a perda do sentido, do significado, a porção esquecida e pouco estudada, principalmente, na arquitetura, mas que faz parte do processo de consciência da existência.
É a experiência na qual não sabemos mais exatamente o que está diante de nós e o que não está.
A desorientação devolve o indivíduo ao espaço existencial, bruto, indiferenciado. É o estado no ser que desconjuga a relação espaço-tempo, jogando-o no abismo dos sentidos.
Um lapso da razão que transporta para a infinitude do espaço e da insignificância de todas as coisas contidas nele. Tudo é igual na desorientação e nada nos causa estranhamento neste estado porque nada é reconhecível ou identificável.
Freud foi um dos primeiros a nos mostrar que os mecanismos do sentido passam pelo não sentido, pelo inconsciente, e foi em seu ensaio Das Unheimlich (“A Inquietante Estranheza”), onde procurou demonstrar a existência de um domínio todo peculiar da estética que escapava às formulações clássicas da teoria do belo. A unheimlich freudiana, no fundo, pode ser vista também como um estudo sobre a orientação.
Didi-Huberman em sua obra O que vemos, o que nos olha, nos explica que Freud propunha ainda um último paradigma para explicar a inquietante estranheza: a desorientação, experiência na qual não sabemos mais exatamente o que está diante de nós e o que não está; ou então se o lugar para onde nos dirigimos já não é aquilo dentro do qual seríamos desde sempre prisioneiros. Propriamente falando, o estranhamento inquietante seria sempre algo em que, por assim dizer, nos vemos totalmente desorientados (11).
A Inquietante Estranheza relaciona-se com o sobrenatural, algo de fantástico que emerge dentro da realidade e que ocasiona o sinistro. A desorientação que Freud analisa não é tanto a desorientação provocada pelo aparecimento do imprevisível, mas sim como ele mesmo disse aproveitando-se da definição de Schelling do sinistro, como algo que deveria ter permanecido oculto, mas saiu à luz. Freud procurou demonstrar que o fenômeno da unheimlich está nas coisas familiares, mas que de repente mostram-se desfamiliares, perturbadoramente estranhas. Ou seja, em outras palavras: que a desorientação pode brotar também inesperadamente das coisas estruturadas pelo sentido da orientação.
Esse conceito vai servir como uma luva para justificar a unheimlich como uma manifestação do reprimido.
Sua teorização sobre a unheimlich tinha suas bases na literatura fantástica em voga no final do século XIX e início do XX. E, irá se utilizar precisamente do conto de E.T.A. Hoffmann: O homem de areia e o conseqüente drama da perda dos olhos para ilustrar a unheimlich.(12)
“O escritor”, diz Freud referindo-se a Hoffmann, “provoca em nós, inicialmente, uma espécie de incerteza, na medida em que, e decerto intencionalmente, não nos deixa perceber se nos introduziu no mundo real ou num qualquer universo fantástico por ele criado” (13). Algo similar acontece nos filmes de R. Polansky, O bebê de Rosemary e O inquilino, que nos fazem vacilar se os acontecimentos são reais ou frutos da imaginação paranóica do personagem central.
Além das conotações da unheimlich, que podem ser traduzidas como Inquietante Estranheza, sinistro, não familiar, estranhamento, desorientação, todas estão associadas à teoria favorita de Freud: repressão-castração (14).
Alguns estudos críticos posteriores trataram de elucidar melhor as proposições de Freud sobre a Inquietante Estranheza, como O espelho da medusa, de Tobin Siebers, que desmontou praticamente toda teoria da unheimlich mostrando uma série de debilidades dos argumentos freudianos, evidenciando-a como uma forma da superstição (15).
Esses estudos mais atualizados mostram que o fantástico, a Inquietante Estranheza, o sinistro, a desorientação ou a falta de sentido não nascem da rejeição, da castração e repressão, embora possam atuar sobre eles. Eles são elementos intrínsecos à formação da realidade convencionada, do sentido comum, do bom senso, do familiar. Representam um não sentido da realidade, um questionamento dentro da lógica social, que se introduz na realidade para afirmar a própria debilidade da realidade, já que para dar sentido à sociedade e à cidade foi necessário organizá-la de uma maneira ‘lógica’. Eles alimentam e reafirmam a realidade através de sua ocultação, enquanto permanecem silenciosos. Por isso, quando a Inquietante Estranheza aparece, tem a capacidade de desestruturar, desorientar e principalmente desestabilizar o centro onde se localiza o sentido ocidental.
Tudo parecia estranho, sinistro, aterrador e surpreendente para Freud. A unheimlich demonstra bem os temores da sociedade do início do século XX, principalmente os temores de Freud, que acreditava, talvez, serem imutáveis ao longo do tempo.
O tema da repetição, que aparece como um componente da desorientação, da Inquietante Estranheza, em Freud baseava-se num certo temor de que um fato que envolvesse o ‘eu’ pudesse repetir-se indefinidamente e independentemente de sua vontade, como o automatismo (16). E é justamente, o fato de estar perdido, desorientado, de retornar ao mesmo lugar contra a sua vontade, que provoca o sentimento do eterno retorno. Quando Freud se perde nas ruas de uma pequena cidade italiana, o que lhe parece terrivelmente assustador é o fato de ter de retornar àquela rua onde todas aquelas mulheres perceberiam que ele estava perdido, andando zonzo, totalmente desorientado. Muito mais a vergonha de revelar seu estado, do que o medo ou o desconforto propriamente dito de que algo terrível poderia lhe acontecer. A desorientação, o descontrole, são estados que não gostamos de revelar, e que portanto devem permanecer ocultos. Talvez por ser desestruturadora, desorientadora e pouco compreensível, é que a Arquitetura Deconstrutivista recebeu fortes críticas por parte dos arquitetos mais tradicionais e conservadores, no final do século XX, recalcando-se em sua lógica construtiva em detrimento das riquezas de seus aspectos de orientação.
Certamente, para Freud seria difícil perder-se em uma cidadezinha do interior da Itália. Essa sensação de não poder controlar sua vontade de ir onde deseja ir lhe incomodava, suscitava o desejo de retornar a um lugar seguro, de voltar a sua casa, ao conforto doméstico do lar. Mas isso, para muitos, hoje, está longe de provocar um sentido imediato ao retorno familiar, às coisas familiares, muito pelo contrário.
Revelar o oculto da casa concordando com Freud é revelar o reprimido, as entranhas, as instalações, o esqueleto, o que faz funcionar e sustentar a casa. Revelar o oculto, o sinistro, é sempre revelar também o estranho e o surpreendente. Foi justamente com essa força que trabalharam os Brutalistas Peter e Alison Smithson, Rogers e Piano no Beaubourg, Archigram e sua Arquitetura Pop , ou mais pontualmente David Greene, reavaliando o que seria o habitar, o lar para uma só pessoa, um envoltório único, sua roupa, seu Living Pod, sua bolsa. Toda interpretação estética de Freud, tanto em seus aspectos negativos ou positivos, sempre tratou as pinturas e os livros, as obras e os fenômenos em geral, como objetos que encobrem um segredo, uma ocultação, e que através de um processo analítico se pode revelar esses elementos ocultos (17).
Observa-se que Freud também relacionava o loop a uma conjunção, a uma coincidência que pode acontecer, como no caso do número 62, que ele cita como exemplo (18). Coincidências estas que são vistas como sinais, como premonições de algo, superstições, ou artimanhas do acaso, objetivo tão explorado pelos surrealistas, como André Breton e Michel Carrouges, por exemplo.
Para os surrealistas o sentido ou o significado da imagem e das coisas brota do encontro, isto é, não existe sozinho como fato ou coisa isolado, brota da conjunção de duas ou mais partes. E quanto mais distantes estas partes estiverem uma da outra em seus sentidos anteriores, mais sentido e intensidade poética terá a nova imagem criada. O acaso pondera de forma determinante nesses encontros. Agora, esse mais sentido buscado pelos surrealistas é exatamente o mais sem-sentido.
Entretanto, devemos observar que repetição não tem nada a ver, pelo menos num primeiro momento, com reprodutividade técnica, a reprodução infinita. A repetição pode ser limitada e pode não produzir a eterna sensação do loop infinito como andar em um carrossel.
O que se pode observar hoje é que o conceito da unheimlich freudiana não é um conceito muito sustentável, pois é mutável ao longo do tempo e carece de um sentido atualizado. O que ontem para Freud ou qualquer contemporâneo seu pudesse ser algo unheimlich, sinistro para nós, hoje faz parte do cotidiano e não nos provoca nenhuma sensação temerosa. Pelo contrário, muitas vezes e em determinadas situações, como estar perdido, pode ser extremamente lúdico e divertido.
Atualmente, é difícil transladar os sentimentos da unheimlich para a arquitetura, exceto dentro de outros suportes de representação, como no cinema, nos filmes de terror gótico de Drácula, Frankstein ou mesmo nas suas versões darks de Aliens (19). Uma das tentativas bem sucedidas de aproximação da Inquietante Estranheza para o universo da arquitetura foi feita em uma série de ensaios escritos por Anthony Vidler em seu livro The architectural uncanny, essays in the modern unhomely. Neste livro, como ele mesmo diz, “não tentei uma história exaustiva ou um tratamento teórico do tema, tampouco construí ou apliquei uma compreensão da teoria da uncanny baseada na fenomenologia, na dialética negativa ou na psicanálise. Mas escolhi algumas aproximações que se mostram relevantes para a interpretação dos edifícios e projetos contemporâneos provocados pelo ressurgimento do interesse da uncanny como metáfora da condição moderna” (20).
A unheimlich não é só um problema de percepção pessoal, mas tem a ver com a forma e a disposição espacial da arquitetura e com o que poderíamos chamar de uma topologia do sentido, que não tem nada a ver com os eixos de orientação corporais de acima-abaixo, direita-esquerda. Husserl, ao estudar a origem da geometria, atribuía a ela a função de ‘formação de sentido’, de orientação e organização. Devemos entender que essa formação de sentido assenta-se sobre uma formação geométrica que a arquitetura ajudou a construir, ou melhor: é inseparável.
Os primeiros passos para uma organização dos sentidos, tal como compreendemos, hoje, foram dados no Quatrocentos, quando se inventou a perspectiva e se utilizaram vários instrumentos ópticos para a representação em profundidade. Sentido este que logo se fez reticulado como um tabuleiro, seguindo as regras gramaticais da confecção da perspectiva: pirâmide visual albertiana, pontos imaginários no infinito, linha do horizonte, distância do observador, etc.
Foi nesta época que a pirâmide, que articulava o cosmo-mundo segundo o eixo vertical ascendente-descendente, foi derrubada. Ao se inverter a pirâmide substituiu-se o olho divino, localizado no vértice superior, pelo olho humano, colocando-o no vértice deitado. Essa seria exatamente a pirâmide visual, a veduta de Alberti, que proporcionava o efeito de profundidade na superfície da tela, ilusão da realidade, diametralmente oposta à representação e organização medieval. Esse foi o princípio de uma gramática universal das imagens que se estabeleceria nos séculos seguintes com todos os tratados de pintura e perspectiva, em outras palavras, estabelecendo as origens das imagens técnicas, da fotografia. É justamente essa orientação imposta pelas imagens técnicas estabelecidas basicamente mediante os critérios de luz, distância, e fotogenia, que norteia nossa vida atual, nossos sentidos (21). Praticamente desde o Renascimento toda a concepção do espaço tem-se fundamentado no sentido de profundidade ou de verticalidade (22).
Mas “o mais profundo é a pele”, já dizia Paul Valèry.
“Portamos o espaço diretamente na carne. Espaço que não é uma categoria ideal do entendimento, mas o elemento despercebido, fundamental, de todas as nossas experiências sensoriais ou fantasmáticas” (23) Didi-Huberman com outras palavras comenta esse mesmo deslocamento da geometria que expliquei anteriormente, utilizando-se de uma passagem de O Processo de Kafka.
“Assim o homem do campo portava em seus ombros, na fadiga do envelhecimento e no progressivo escurecimento de seus olhos, uma espécie de geometria. Num certo sentido ele a encarnava, ele decidia sobre seu tempo passado diante da porta, decidia, portanto, sua carne. Com freqüência houve engano sobre o estatuto da geometria. Quando se fez dela – no Renascimento, por exemplo – um simples ‘fundo’ ou uma espécie de cenário teatral como nas pinturas de Piero de La Francesca, sobre os quais se destacavam os corpos humanos e suas ‘histórias’ mimeticamente representadas; de maneira simétrica, houve engano – no minimalismo, por exemplo – quando se fez da geometria um simples objeto visual ‘específico’ do qual toda a carne estaria ausente” (24).
notas
1
Uma pequena parte desse texto, basicamente o que se refere ao sentido do espaço existencial, foi apresentado originalmente no I Congresso Internacional de Psicanálise e Intersecções – Arquitetura: Luz e Metáfora. Grupo de Estudos Avançados (GEA), em Porto Alegre, 22 a 25 05/2002. O texto foi integralmente publicado na Revista ARQTEXTO n. 3-4, uma publicação do PROPAR – Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura – UFRGS. Este artigo faz parte de uma trilogia. A segunda parte poderá ser lida em Arquitextos 049.02 e a terceira em Arquitextos 050.02.
2
MARCEL, Gabriel. Da recusa à invocação. In: FOULQUIÉ, Paul. O existencialismo. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1955, p. 45.
3
SARTRE, J.P. O ser e o nada. In: FOULQUIÉ, Paul., op. cit., p. 64.
4
Refiro-me aos trabalhos de Josep Muntañola, Topogenesis I, II, III, Arquitectura como lugar. Barcelona: Oikos-Tau, 1979-80. O trabalho de Charles Moore, Cuerpo, memoria y arquitectura. Madrid: H. Blume Ediciones, 1982. E os de Christian Norberg Schulz, Existencia, espacio y arquitectura. Barcelona: Blume, 1975. Schulz foi um dos poucos teóricos da arquitetura a estudar o sentido do espaço, principalmente em seu livro Existência, espaço e arquitetura. Entretanto, interpretou o espaço existencial como o lugar da existência, e infelizmente não chegou a aproximar a percepção do espaço existencial, do espaço “bruto”, como viam os existencialistas. No trabalho de Schulz observa-se esse deslocamento de pensamento do espaço existencialista (Heidegger, Sartre) à concepção do espaço fenomenológico de Bachelard e Merleau-Ponty, sem esgotar o questionamento do espaço existencial. Estava mais preocupado, ao fim, em estabelecer categorias do espaço, descrevê-los, evocar os espíritos do lugar, do que propriamente interrogá-lo ao limite.
5
FOULQUIÉ, Paul. O existencialismo. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1955, p. 80-81.
6
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Pensar é estar doente dos olhos. In: NOVAES, Adauto (Org). O Olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 327-345. Neste ensaio Perrone-Moisés nos descreve os distintos modos de ver do poeta Fernando Pessoa e seus heterônimos, mostrando o olhar de uma pessoa que não se contentou em dispor de um único olhar, mas dispôs de vários, enfrentando o risco de perder a si mesma de vista.
7
DELEUZE, Gilles. A Lógica dos sentidos. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2000. p. 21. Neste livro, Deleuze apresenta uma série de paradoxos que formam a Teoria do Sentido, alicerçado no trabalho de Lewis Carrol e na filosofia dos estóicos.
8
DELEUZE, Gilles. Op. cit., p. 143. “O não-senso é ao mesmo tempo o que não tem sentido, mas que como tal, opõe-se à ausência de sentido, operando a doação de sentido, e é isto que é preciso entender por non-sense”. Id. ibid., p. 74.9
Id. ibid., p. 78. A noção de absurdo esteve sempre latente nas filosofias irracionais ou nas que se recusavam a encontrar um sentido racional para a existência, como obviamente o existencialismo. Os existencialistas procuravam uma saída ante o labirinto: a condição humana, propondo a escolha lúcida do próprio destino, do trajeto, da arquitetura do labirinto, ou a revolta. O non-sense seria o disparate puro e simples, o absolutamente sem sentido, enquanto o absurdo, enquanto absurdo, teria ainda um sentido, embora inexplicável e distante, como a obra de Kafka.
10
Id. ibid., p. 70.
11
DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Editora 34, 1998, p. 231. “A Inquietante Estranheza está situada à parte porque define um lugar paradoxal da estética: é o lugar de onde suscita a angústia em geral; é o lugar onde o que vemos aponta para além do princípio de prazer; é o lugar onde ver é perder-se, e onde o objeto da perda sem recurso nos olha. É o lugar da Inquietante Estranheza”. Id. ibid., p. 227.
12
“O estudo dos sonhos, das fantasias e dos mitos ensinou-nos ainda que a angústia acerca dos olhos, o medo de cegar, é freqüentemente um substituto da angústia da castração”. FREUD, Sigmund. Textos essenciais sobre literatura, arte e psicanálise. Portugal: Publicações Europa-América. p. 221. [s.d.]
13
FREUD, op. cit., p. 220. Comento sobre esse tema em Arquiteturas Fantásticas, baseado-me no trabalho de Todorov: o fantástico é algo misterioso, inexplicável ou inadmissível que se introduz na vida real, definindo-se sempre em relação à realidade e ao imaginário. Acontece na hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais em face de um acontecimento aparentemente sobrenatural. FUÃO, Fernando. O fantástico na arquitetura, In: FUÃO, Fernando Freitas (Org.). Arquiteturas fantásticas. Porto Alegre: Editora da Universidade /UFRGS, Faculdade Ritter dos Reis, 1999, p. 13-36.
14
Os sentimentos e os significados da unheimlich são tão amplos e irrestritos na língua alemã que seria difícil traduzir literalmente para o português. Mas em seu ensaiou Freud tratou de selecionar alguns desses aspectos. Freud quando buscava o correspondente da unheimlich na língua portuguesa (acho que só por ser mais erudito, pois creio que não sabia nada de português, ademais em se tratando de um sentimento, que já é difícil de se explicar em sua própria língua) dizia o seguinte: “O italiano e o português parecem contentar-se com palavras que parecem perífrases”. Na língua portuguesa encontrei três traduções para a unheimlich: ‘A inquietante estranheza’, ‘O estranho’, e ‘O sentimento de algo ameaçadoramente estranho’, em uma edição de Portugal.
15
SIEBERS, Tobin. El espejo de la medusa. México: Fondo de Cultura Económica, 1985. Siebers resumidamente mostra, no capítulo concernente a Freud, como ele tratou de afastar o papel da superstição do discurso da unheimlich. Veja-se também o trabalho de Max Milner La fantasmagoria, um estudo sobre as próteses visuais na literatura. Fondo de Cultura Económica, México, 1990.
16
"Inicialmente precisamos lembrar que nesses fenômenos de automatismo, estamos confrontando com uma autonomia do mecanismo. Esta característica nos interessa pois ela é própria a toda estrutura de repetição. O sujeito que vivencia essa compulsão de repetição experimenta a sensação de sentir-se excluído. A lógica da compulsão de repetição se apresenta diante de nossos olhos como algo autônomo que está mais além nos de automatismo, estamos confrontando com uma autonomia do mecanismo. Esta característica nos interessa pois ela é própria a toda estrutura de repetição. O sujeito que vivencia essa compulsão de repetição experimenta a sensação de sentir-se excluído. A lógica da compulsão de repetição se apresenta diante de nossos olhos como algo autônomo que está mais além do nosso controle. É por esta razão que Freud mencionava, por várias vezes, a figura do destino como uma possibilidade freqüentemente evocada para dar conta desses fenômenos. “SOUZA, Edson Luiz André de. Uma estética negativa em Freud, In: SOUZA, Edson; TESSLER, Elida; SLAVUTZKY, Abrão. (Org.), A invenção da vida. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2001, p. 128.
17
Nesse sentido sobre a trajetória da estética Freudiana e Pós-Freudiana (Lyotard, Damisch, Didi-Huberman...) veja-se o elucidativo ensaio de HUCHET, Stéphane: Linguagens do não-saber: teoria da arte e psicanálise. In: SOUZA, Edson; TESSLER, Elida; SLAVUTZKY, Abrão. (org.). Op. cit., p. 176-188.
18
“A partir de uma série de outras experiências, reconhecemos também facilmente que é apenas o fator de repetição involuntária que transforma em ameaçadoramente estranho aquilo que até ali foi inofensivo, e nos impõe a idéia de que algo de funesto uma chapa com um dado número – pode ser o 62 – num vestiário onde se entregou o casaco, ou se descobre que o camarote que nos foi destinado num navio tem o mesmo número. Mas essa impressão modifica-se quando ambos os acontecimentos, independentes um do outro, se tornam próximos, ou seja, quando alguém, no mesmo dia, depara várias vezes com o número 62, quando, suponhamos, é levado a verificar que tudo o que tem uma classificação numérica – moradas, quarto no hotel, carruagem do comboio – apresenta invariavelmente o mesmo número, ou pelo menos um deles. Isso é considerado ‘ameaçadoramente estranho’ e quem não é invulnerável às tentações da superstição será levado a atribuir um sentido oculto a esta insistente repetição de um número, talvez a ver nisso como que uma indicação acerca da duração da sua vida”. FREUD. Op. cit., p. 225.
19
Sobre o tema dos suportes de representação veja-se FUÃO, Fernando. Op. cit., p. 13-36.
20
VIDLER, Anthony. The architectural uncanny: essays in the modern unhomely. 3.ed. Cambridge, Massachusetts: Mit Press, 1994. p. 19. Como a unheimlich é um sentimento não muito preciso em sua definição, Vidler nos mostra uma unheimlich muitas vezes próxima ao sentimento de medo “A sensibilidade contemporânea vê o uncanny surgir nos vazios dos estacionamentos abandonados ou do shopping mall.”, p. III. No ensaio Unhomely houses, Vidler faz um passeio pela uncanny da arquitetura da literatura, reafirmando não só as análises feitas por Freud sobre O homem de areia de E.T.A. Hoffmann, mas também analisando os trabalhos de Quincey, Charles Nodier e Hermann Melville. Praticamente em seu primeiro capítulo ele trata de transcrever quase que literalmente grande parte do ensaio de Freud. É uma tentativa de delinear e explorar os aspectos espaciais e arquitetônicos da uncanny como foi caracterizada na literatura, filosofia, psicologia e na arquitetura desde o final do século XIX até o presente. Na segunda parte Vidler examina a complexidade e mudança das relações entre edifício e corpo, estrutura e lugares que se caracterizam por tentar desestabilizar as convenções da arquitetura tradicional nos anos recentes, com referência às teorias críticas do estranhamento, indeterminação lingüística e representação, que serviram como veículos para os experimentos das vanguardas artísticas (Coop, Himmelblau, Stirling, Tschumi). Na parte três, Vidler apresenta a implicação da uncanny para o urbanismo e especialmente para a interpretação da condição espacial, baseado nas tentativas de Freud para abordar os efeitos de encontrar-se perdido na cidade, e o fascínio moderno pelo flaneur, desde Benjamin a Breton. Vidler observou os meios através dos quais a psicologia e a psicanálise encontraram na cidade o lugar para a exploração da ansiedade e paranóia. Vidler descreve o que poderia ser considerado como uma sensibilidade pós-urbanismo, do surrealismo ao situacionismo. No fundo o livro é uma coletânea de ensaios críticos atados pela tênue linha do unheimlich apresentado nos primeiros capítulos. Vidler apresenta praticamente a mesma descrição de Freud em sua tentativa de definir a unheimlich.
21
Sobre a trajetória da arquitetura desde a ótica da câmara escura, tratei exaustivamente em A Máquina de Fragmentos, em Arquitetura como Collage. Barcelona: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, UPC, 1987-1992. (Tese doutoral)
22
Deleuze, em seus trabalhos, principalmente em A dobra inaugura um novo sentido para o sentido que não mais se funda na profundidade produzida pela perspectiva clássica quatrocentista, nem na verticalidade (ascendente-descendente) religiosa medieval. Deleuze propõe um sentido na superfície, baseado nos postulados existencialistas e fenomenológicos de Heidegger, Husserl. DELEUZE, Gilles. El pliegue. Barcelona: Edicione Paidós, 1988.
23
DIDI-HUBERMAN, Op. cit., p. 246.
24
Id. ibid., p. 246.
sobre o autor
Fernando Freitas Fuão é arquiteto, doutor pela Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona com a tese “Arquitectura como Collage”, 1992. Atualmente é professor na Faculdade de Arquitetura e no Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.





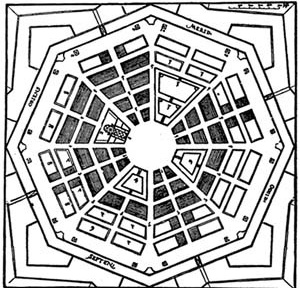



![Jean Dubuffet fotografado por Louis Heckly em 1973 [www.dubuffetfondation.com]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/9559_arq048-02-07.jpg)
![Allés et venues,1965. Jean Dubuffet [www.dubuffetfondation.com]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/9559_arq048-02-08.jpg)
![Rue deL'entourloupe, 1963. Jean Dubuffet [www.dubuffetfondation.com]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/9559_arq048-02-09.jpg)






![Jean Dubuffet fotografado por Louis Heckly em 1973 [www.dubuffetfondation.com]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/9559_arq048-02-07.jpg)
![Allés et venues,1965. Jean Dubuffet [www.dubuffetfondation.com]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/9559_arq048-02-08.jpg)
![Rue deL'entourloupe, 1963. Jean Dubuffet [www.dubuffetfondation.com]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/9559_arq048-02-09.jpg)
