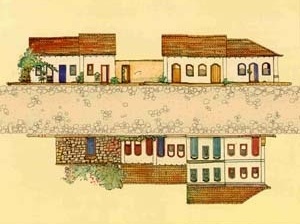No renascimento, o arquiteto dá sentido à sua produção pela relação direta com o poder e assume sua posição na divisão do trabalho, que é ocupado até hoje de forma muito semelhante. Em sua obra Arquiteto, a máscara e a face, Paulo Bicca afirma que “o fato de o arquiteto ser o suporte de um trabalho intelectual dividido do trabalho manual faz da sua existência algo de profundamente social e inevitavelmente comprometido com as contradições daí resultantes. Enquanto agente da produção que pressupõe a divisão do trabalho entre o conceber e o construir como intrínseca a todo o processo produtivo da arquitetura do qual faz parte, ele tem sua existência determinada por aquilo que é básico às sociedades divididas em classes; ele participa inexoravelmente – de modo mais ou menos consciente, pouco importa – da reprodução de uma sociedade estribada na propriedade e posse privadas dos bens materiais e dos homens” (1).
São esses estigmas e a contradição que carregam consigo todos os arquitetos, posto que, e malgrado certas diferenças ideológicas, o trabalho de todos depende da “livre disposição da força de trabalho alheio“ (2), isto é, depende da exploração e da dominação do operário da construção civil. Nas organizações sociais onde se atingiu um alto grau de formação intelectual e especialização, o trabalho manual é rejeitado de forma natural e assumido principalmente, pelos imigrantes. Ele é pejorativamente chamado pelos americanos, por exemplo, de “3D”: difficult (difícil), dangerous (perigoso) e dirty (sujo). A diferença de valor entre o conceber e o construir é determinada também pela estima que um e outro tem determinada pela cultura local. A evolução do sistema de construção convencional para o industrial aponta para uma nova face na divisão do trabalho como conseqüência direta da lei da oferta e procura.
No Japão um operário da construção civil é, invariavelmente, melhor remunerado do que grande parte dos arquitetos empregados nas empresas. Não podemos então, dar meia consideração ao legado por arquitetos como o João Filgueiras Lima (o Lelé). O sistema de construção racionalizado criado por ele e empregado na construção dos hospitais da rede Sarah é um exemplo no Brasil da capacidade que o arquiteto tem de pensar, da mesma forma, em um trabalho limpo que possibilite ao operário, ao menos, uma atividade de subsistência com maior dignidade e distância da exploração. Torna-se, pois, injusto dizer que o exercício da nossa profissão é irremediavelmente dependente da exploração da mão-de-obra alheia, ou que tenhamos uma participação fundamental e particular nas distorções sociais aí implícitas.
A divisão do trabalho sempre existiu e sempre existirá, em qualquer organização social. É algo que independe do sistema que a envolve: capitalista, ou não. A estratificação da sociedade é inerente à própria condição humana, e estará sempre subordinada às necessidades de aproveitamento dos dons e aptidões de cada um de forma que a engrenagem social, sempre sistêmica, funcione e torne-se através do equilíbrio das forças dos vários interesses, justa e produtiva. O mesmo pode-se dizer sobre a própria capacidade de liderança que é um dom incomum. A discussão filosófica “se todos nascemos iguais” é uma das mais antigas, longa e interminável.
Em um outro trecho de seu livro, Paulo Bicca cita um trecho de O Capital, de Karl Marx: “Os trabalhadores são indivíduos isolados que entram em relação com o capital, mas não entre si. Sua cooperação só começa no processo de trabalho, mas depois de entrar nestes deixam de pertencer a si mesmos. Incorporam-se então, o capital quando cooperam, ao serem membros de um organismo que trabalha, representam apenas uma forma especial de existência do capital. Por isso, a força produtiva que o trabalhador desenvolve como trabalho social é a produtividade do capital” (3). A ética profissional pela sua mediação jurídica não nos obriga a uma triagem de clientes considerando a classe social da qual ele faz parte. Nada de surpreendente se levarmos em consideração a lógica capitalista em que vivemos, do acúmulo de capital. A profissão exercida é hoje em dia, antes de tudo, uma forma de sobrevivência e um melhor posicionamento na divisão social.
Sobre a arte contemporânea, nos anos 40, Lúcio Costa afirmou: ”Não cabe indagar, com intenções discriminatórias, ‘para quem o artista trabalha’, porque a serviço de uma causa ou de alguém, por ideal ou interesse, ele trabalha sempre apenas, no fundo – quando verdadeiramente artista –, para si mesmo, pois se alimenta da própria criação, muito embora anseie pelo estímulo de repercussão e do aplauso como pelo ar que respira” (4). A discussão sobre o engajamento na luta por uma sociedade mais justa deve estar envolvida pelo que venha determinar a lei moral. Devemos considerar como nos ensina Giulio Carlo Argan na obra Clássico Anticlássico, que temos a convivência regida pelas leis moral e oficial. Sendo a primeira, uma conseqüência dos valores construídos no bojo da cultura e da ideologia predominante. A tarefa para o alcance da igualdade é eminentemente coletiva, onde indivíduos ou grupos dividem a responsabilidade na geração de sua forma plena. Salvamos o mundo todos juntos.
Não podemos deixar de considerar dentro deste debate outras formas de atuação do profissional da arquitetura, quando de sua transformação em ciência que deu-nos a possibilidade de pensar as cidades através de sua formação também como um urbanista. Mesmo quando isso não tenha passado de uma utopia ou mera erudição banhada por alguma pretensão. Graças ao surgimento do urbanismo como área do conhecimento, contamos com as divisões do poder público criadas para planejar e gerenciar as demandas dos grandes centros urbanos; e policiar a consideração que se dá ao patrimônio histórico. Sua vulnerabilidade aos interesses políticos submissos aos das grandes corporações é sempre uma possibilidade, e um risco no jogo com regras capitalistas. Segundo Umberto Eco os arquitetos são os últimos dos humanistas. Esse “fardo” deve ser devidamente dividido. A arquitetura é necessariamente cada vez mais poligonal e multidisciplinar e vinculou-se de forma salutar e irreversível às ciências sociais. Sobre Brasília afirmo que se ela é uma mera “afirmação do estado” ou um “produto do capitalismo”, importa tanto quanto a tentativa explícita e ainda exemplar de gerar um equilíbrio entre espaço público e privado.
Tanto quanto nossa posição na divisão do trabalho, também nos são caras outras discussões de cunho “existencial”. Passada a rica história construída pela arquitetura brasileira, especialmente no século XX, o arquiteto no Brasil não consegue nem mesmo se fazer entendido pela esmagadora maioria da população, como profissão. “Quais são as nossas aptidões ou, o que nos diferencia da atividade do engenheiro civil”, são perguntas comumente colocadas pela sociedade. São básicas e por isso mesmo, preocupantes e denunciadoras de nossa distância dos clientes em potencial. Não somos contemplados com o respeito e sentido de imprescindibilidade que os outros profissionais das demais áreas do conhecimento têm no consciente coletivo.
A discussão perpassa também pela forma de comunicação que temos com a sociedade que é, pelo jeito, incompetente. Por esta incompetência e omissão o arquiteto encontra-se refém de esteriótipos como o do decorador, ou melhor, do ”maquiador de espaços”. Torna-se grave o fato de que as organizações que vem sendo criadas para a institucionalizar a “profissão” do decorador sejam sustentadas pelos próprios arquitetos. Os eventos “barrocos” como a Casa Cor, passaram a ser para a sociedade a maior “vitrine” da nossa produção. Os espaços concebidos são um mero show-room travestido de “arquitetura”, a serviço (promíscuo) da lógica do mercado, com a sua ávida necessidade de renovar a oferta de produtos. A psicanalista Maria Rita Kehl, em sua obra Sobre ética e psicanálise, afirma que “o capitalismo substitui definitivamente a idéia de um bem supremo pelo que Lacan chama de ‘a dimensão dos bens’, instaurando a promessa permanente de que o sujeito poderia contornar o desejo encontrando no real (no mercado), o equivalente possível do seu bem” (5). São pretensas invenções incapazes de ensinar a alguém que o habitat é na sua essência espiritualidade e dignidade, mais do que o luxo e fetichismo, parafraseando Lina Bo Bardi.
Essas construções efêmeras são invariavelmente carregadas de signos de concupiscência que servem apenas como um alerta e uma forma denunciadora da mentalidade medíocre, especialmente, da classe média que continua a não entender que a felicidade do indivíduo é de forma iniludível dependente do sucesso do sentido do coletivo. Tudo isso não teria relevância não fosse o fato de que o trabalho do arquiteto tem como outra função social a criação de matérias significantes e algumas das simbologias que colaboram na estruturação psíquica do indivíduo. Através da conversão das obras que concebemos em signos, criamos alternativas de comunicação em uma narrativa capaz de traduzir valores que destroem ou celebram o sentido da própria existência da coletividade. A arquitetura alcança a sua função plena e diferencia-se da mera construção quando considerada como um elemento simbólico, além do papel de uma estrutura utilitária.
Nossas cidades são a verdadeira casa do homem contemporâneo, como disse Paulo Mendes da Rocha em uma recente entrevista (6). Elas são uma estrutura de interlocução e inscrições de referências culturais, tão importantes quanto a carga funcional que carregam. Na mesma obra, Maria Rita Kehl, diz: “Se a perda do sentido da existência está na origem da depressão, que é o sintoma emergente do mal-estar contemporâneo, isso é sinal de que o sentido não é um valor inerente à própria vida: é efeito de uma construção discursiva que confere significado ao aleatório, ao sem sentido, à precariedade da existência. ‘O informulável é a doença do pensamento’, escreveu Lévi-Strauss na conclusão de seu texto magistral sobre a ‘eficácia simbólica’, indicando nossa intolerância aos aspectos da existência de vazios de discurso. O homem está sempre tentando ampliar o domínio simbólico sobre o seu real do corpo, da morte, do sexo, e do futuro incerto. Mas, essa produção de sentido não é individual – seu alcance simbólico reside justamente no fato de ser coletiva, e seus efeitos, inscritos na cultura” (7). Mais à frente ela complementa dizendo: “os discursos predominantes a respeito do que a vida deve ser têm se empobrecido gradativamente à medida que se apóiam cada vez menos em razões filosóficas e cada vez mais em razões de mercado“ (8).
Faz parte da reconstrução de nossa face e do desvencilhamento das máscaras a contribuição do arquiteto no resgate de uma sociedade refém não só das injustiças sociais, mas também, do subjugo pelo poder das imagens. Giulio Carlo Argan, em sua obra A história da arte como história da cidade, comenta: ”O bombardeio de imagens que as pessoas estão expostas, principalmente nas cidades, tem por conseqüência a paralisação da imaginação como faculdade produtora de imagens. Essa falta de emissão de imagens tem por conseqüência a aceitação passiva das imagens que formam o ambiente efêmero, mas real, da existência. Isso significa falta de reação ativa, de interesse, de participação. Não é outra coisa senão o que chamamos de alienação. E sabemos que a alienação, a falta de integração ao ambiente, a paralisação da imaginação são a origem da patologia urbana, da violência, do vandalismo, das drogas, da neurose coletiva. Em suma, é preciso conseguir que a informação e a comunicação de massa não sejam em mão única e, acima de tudo, não impeçam a comunicação dos indivíduos entre si e com o ambiente” (9).
É imprescindível, pois, que as escolas de arquitetura sejam um dos foros permanentes das discussões filosóficas. O curso de formação de um arquiteto deve ser antes de tudo uma aula de cidadania. A estética por sua vez, concorreria como um dos temas protagonistas, permanentes e indissociável da ética. Não se pode adiar mais a retomada de nosso papel como pensadores. O arquiteto, ao contrário do que suscita (ou suscitava) Paulo Bicca, não deve se autonegar, mas sim se autocriticar. Somos, pela abrangência de nossa formação acadêmica, imprescindíveis para a sociedade. Mas, pelo jeito, há ainda muito o que fazer para nos aproximarmos dela de forma definitiva. A responsabilidade por isso é toda nossa.
notas
1
BICCA, Paulo. Arquiteto, a máscara e a face. São Paulo, Projeto, 1984, p. 67.
2
Idem, ibidem, p. 67.
3
MARX, Karl. O Capital. Apud BICCA, Paulo. Op. cit., p. 23.
4
COSTA, Lúcio. Com a palavra, Lúcio Costa, Rio de Janeiro, Aeroplano, p. 36.
5
KEHL, Maria Rita. Sobre ética e psicanálise. São Paulo, Companhia das Letras, 2002, p. 51.
6
ROCHA, Paulo Mendes da. Entrevista à Globo News.
7
KEHL, Maria Rita. Op. cit., p. 9.
8
Idem, ibidem, p. 9.
9
ARGAN, Giulio Carlo. A história da arte como a história da cidade. São Paulo, Martins Fontes, 4ª ed., 1998, p. 70.
sobre o autor
Francisco Lauande é arquiteto. Formado pela Universidade de Brasília(1987). Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNIP – Campus Brasília. Tem curso de pós-graduação em Sistemas de Construção pela Universidade Metropolitana de Tóquio (1990-1991). Foi membro do Conselho Fiscal do IAB-DF (1996-1997) e Diretor Cultural do IAB-DF (2000-2001). Foi o responsável pela organização da III Bienal de Arquitetura de Brasília (2001).