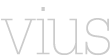Desde tempos imemoriais a arte está presente no fazer humano. É a partir dela que o indivíduo expressa seu entendimento sensível no embate que realiza com o mundo. Sua interação com a paisagem, e suas formas de compreensão das relações com o objeto, figura como expressão da apropriação/representação de si e de todo. A arte é resultado da própria evolução humana, já que o avanço da primeira quer dizer, necessariamente a evolução da segunda.
Celso Frederico (1) concorda quando expõe que “a essência da arte é resultado de um longo desenvolvimento histórico, de uma necessidade surgida na vida cotidiana e não, como queria Kant, uma das faculdades apriorísticas do espírito humano”. Ela é, antes de tudo, resultado da ação do indivíduo sobre a natureza. O artista pós-impressionista Vincent Van Gogh (2) diria que “a arte é o homem acrescentado à natureza, é o homem acrescentado à realidade, à verdade, mas com um significado, com uma concepção, com um caráter, que o artista ressalta, e aos quais dá expressão, resgata, distingue, liberta e ilumina”. A arte é resultado, ainda que essência humana.
Anamelia Bueno Buoro (3) contribui dizendo que a arte, como “produto do embate homem/mundo, é vida. Por meio dela o homem interpreta sua própria natureza, construindo formas ao mesmo tempo em que se descobre, inventa, figura e conhece.” E talvez essa seja uma definição assertiva: arte é vida. Parte significativa da vida e da ação humana é proveniente da aprendizagem, à que chamamos educação, e se essa coerência é respeitada, a arte é formadora e resultado das diferentes experiências e modos educativos pelos quais passam os indivíduos em sua existência.
É importante lembrar que entendemos educação como experiências, formais ou não, que resultam em construção de conhecimento. E, se a educação constrói, porque atua como prática social que altera os estados culturais, é de se considerar que a cultura esteja sempre em modificação construindo também o ser social, o sujeito que interagindo interpreta o mundo e existe culturalmente nele.
Para o arquiteto Mário Pedrosa (4) “é preciso que a arte apareça para disciplinar a ciência e aplicar seu espírito de síntese à multiplicidade dos conhecimentos”. Entendemos que esse disciplinar não se configure como fôrma (apresentada com acento circunflexo para não causar dúvidas quanto a fonética do termo), mas sim como forma, de modo que condense os olhares da multiplicidade enquanto os valoriza em suas dimensões únicas. A arte figura então como caminho(s) para expressão da humanidade, e por conseguinte desenvolvimento do próprio humanismo, afinal como relata Ernest Fischer (5) “uma das grandes funções da arte numa época de imenso poder mecânico é a de mostrar que existem decisões livres, que o homem é capaz de criar situações de que precisa, as situações para as quais se inclina a sua vontade”.
Entendemos assim que as mais diversas formas de arte auxiliam na compreensão do ser humano, bem como de sua relação com o mundo, daí decidimos analisar a relação entre território e música na apropriação dos espaços públicos da cidade.
Música: uma forma de expressão artística no território
A música compreende parte do cotidiano humano resultando como uma das principais formas de expressão artística. Somos estimulados por meio da música durante o brincar, o dançar e até mesmo o dormir. Ela é parte indissociável das tecnologias de comunicação, como a televisão o rádio, a internet. Está nos encontros familiares, no ambiente escolar, na rua, em nós.
Do ponto de vista físico, a música é o ordenamento dos sons, que são vibrações, deslocamentos atmosféricos em formato de onda, que nosso cérebro é capaz de captar e atribuir sentido. Sons se diferenciam de ruídos porque possuem uma ordenação, estabilidade, constância e ritmo. Como produto de ordenação dos sons, a música atuaria diretamente na linguagem humana. Ela é em sua essência, uma forma de comunicação. Uma ponte entre os corpos. Uma representação simbólica do eu-outro. O compositor José Miguel Wisnik (6) aponta que “a música atravessa certas redes defensivas que a consciência e a linguagem cristalizada opõem à sua ação e toca em pontos de ligação efetivos do mental e do corporal, do intelectual e do afetivo”.
Daí então que a música, sendo afetiva é produto da emoção e da forma como mobilizamos essa emoção ao nos relacionarmos com o mundo. Jean-Paul Sartre (7) dirá que a “emoção é uma transformação do mundo”. Para ele, a emoção é uma ação que responde à estímulos percebidos pelo nosso esforço cognitivo em decifrar mensagens presentes em nós e ao nosso redor.
Abordando o pensamento de Friedrich Nietzsche, Viviane Mosé (8) afirma que “para Nietzsche, o fluxo da vida é artístico, a vida é um fenômeno estético; mais do que isso, ele é musical, se compõe como uma música primordial, uma melodia dos afetos”.
O historiador Luiz Antonio Simas (9) já diria que a música de rua e seus tambores possuem caráter pedagógico. Em suas palavras “os tambores formaram mais gente do que os nossos olhares e ouvidos, acostumados apenas aos saberes normativos que se cristalizam nas pedagogias oficiais”. Essa pedagogia não oficial da música contribui para o desenvolvimento dos indivíduos, seja junto à coordenação motora, socialização, afetividade, cognição e epistemologia. Assim, a música é aprendizagem complexa e completa. Promove o encontro do indivíduo com os seus e com os outros.
Se observarmos normativos educacionais como os Parâmetros Curriculares Nacionais, veremos que a ideia de que a música é parte da cultura humana não só é admitida como alçada à condição histórica de responsável para a formação da cidadania:
“A música está presente em todas as culturas, nas mais diversas situações: festas e comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas, políticas etc. Faz parte da educação desde há muito tempo, sendo que, já na Grécia antiga, era considerada como fundamental para a formação dos futuros cidadãos, ao lado da matemática e da filosofia” (10).
Desta feita, é itinerário dizer que há tempos, a música é entendida como forma de arte que possui caráter fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Coadunam com essa visão Sidirley de Jesus Barreto e Karina Meneghetti Chiarelli para quem
“A musicalização pode contribuir com a aprendizagem, evoluindo o desenvolvimento social, afetivo, cognitivo, linguístico e psicomotor da criança. A música não só fornece uma experiência estética, mas também facilita o processo de aprendizagem, como instrumento para tornar a escola um lugar mais alegre e receptivo, até mesmo porque a música é um bem cultural e faz com que o aluno se torne mais crítico” (11).
A criticidade, na concepção marxista do termo, ocorre também por meio das artes, afinal as manifestações artísticas figuram como ação de entendimento do ser humano, de sua realidade social, econômica, de trabalho, ou seja, a arte é resultado do que é o indivíduo. Karl Marx (12) dirá que “ser radical significa agarrar a questão pela raiz. Mas a raiz é, para o ser humano, o próprio ser humano”. Nós complementamos que como ser histórico-social, sujeitos constroem sua realidade, a materializam historicamente mediante sua operação com a interpretação dos signos presentes no mundo. Um desses signos, ligado diretamente à música, mas não só a ela, é o que convencionamos chamar de ritmo.
Ritmo remonta ancestralidade, é das primeiras percepções humanas, pois está entredito por metáforas e experiências ligadas a passagem do tempo. O ritmo possui substância histórica. Tecnicamente, todo o fragmento de som está subordinado a ele, que segundo Antônio Candido (13) figura como “uma alternância de sonoridades mais fracas e mais fortes, formando uma unidade configurada”.
Há ritmo na natureza, na velocidade com que o ar se desloca, nas estações do ano, nas gotas da chuva que molham o passeio público e que fazem aumentar o ritmo das passadas dos transeuntes. Na música o ritmo ganha papel de destaque. Um elemento unificador capaz de fazer fruir a sensibilidade humana, tão coletiva quanto subjetiva. É o que Marx (14) defende quando, falando sobre o trabalho, aponta que o desenvolvimento da consciência humana, ainda abstrata, se dá a partir da “riqueza da subjetiva sensibilidade humana”, o que promove sentido para observação do que é belo e sublime para aquele indivíduo e a sociedade que o mesmo integra.
O próprio Marx (15) defendia a ideia de que, “o homem rico é simultaneamente o homem necessitado de uma totalidade da manifestação humana da vida”. Desta feita, pode-se inferir que as artes são capazes de suscitar uma humanização que o trabalho moderno coíbe, daí a importância da arte para a composição e entendimento humanos.
O sujeito social é sensível àquilo que ele e seu grupo valorizam como potências subjetivas que negocia com a realidade objetiva. A arte que lhe faz sentido passa a ser seu objeto de existência, assim a música com que se identifica, ou mesmo o ritmo com que conduz sua relação com o externo, parte de sua interpretação e valorização daquilo que percebe e reconhece do mundo em si.
Daí, se a arte e a música são antes de tudo fenômenos sociais, estas devem ter nos espaços públicos uma ocorrência e valorização naturais. Contudo, parece-nos que as práticas legalistas, de higienização social, de reforma cultural e de atendimento às demandas do mercado (imobiliário, principalmente), atuaram na desnaturalização da rua, da praça, do largo, do público, como espaços de manifestação cultural. Os movimentos de retomada de valorização do uso dos espaços públicos é nosso tema seguinte.
Música de rua como forma de apropriação/emancipação do/no espaço urbano
Na arte, ou pelo menos nas formas como estamos habituados a conviver fisicamente com ela no século 21, ocorre uma delimitação de “espaços para”. Uma peça ou esquete de teatro, deve ocorrer num prédio homônimo. A literatura, como produto, possui nas livrarias e bibliotecas seu ponto de existência. São os museus a casa das artes plásticas como quadros e esculturas. E a música também ocorre em sítios pré-determinados, como auditórios, salas de concerto, coretos, e mais recentemente estádios de futebol, ditas arenas multiuso. Esses “espaços para” direcionam para uma erudição das artes. Espaços que segregam financeiramente ou pelo acesso ao prédio em que ocorrem. A institucionalização/privatização da arte não serve apenas à uma lógica de organização do espaço, mas também (e talvez, muito mais) a uma forma de controle social, de manipulação da vida, de diminuição da espontaneidade, de entrave baseado numa mecânica contrária à ação humana, que como diz Friedrich Nietzsche (16) ataca a ideia de que “todo corpo específico aspira por tornar-se totalmente senhor do espaço e a estender sua força (sua vontade de potência), a repelir tudo o que resiste à sua expansão”.
Justifica-se que esse tipo de mecanização para acesso a arte proporciona uma organização necessária aos centros urbanos, de modo que as pessoas possam integrar essa lógica como peças de um maquinismo em que cumprem uma função vital no girar da engrenagem da cidade que autoriza (inter)ações em espaços artísticos. Canclini alerta:
"A vida urbana transgride a cada momento essa ordem. Enquanto nos museus os objetos históricos são subtraídos à história e seu sentido intrínseco é congelado em uma eternidade em que nunca mais acontecerá nada, os monumentos abertos à dinâmica urbana facilitam que a memória interaja com a mudança, que os heróis nacionais se revitalizem” (17).
Entendemos que a cidade, como coisa humana, ocorre também nos espaços delimitados à cultura, porém reside muito mais no convívio das pessoas, no vigor do acontecer humano, tão banal quanto artístico.
Nesse sentido, a música de rua figura como um dos movimentos de resistência na cidade, do uso do território, pois acontecendo nos espaços do cotidiano, promove assimilação artística imediata, uma vez que não carece de conhecimento aprofundado no tema para ser interpretada, ao contrário, ativa a convivência com o ritmo, ancestral componente da vida humana.
As intervenções musicais na cidade promovem o ajuntamento de pessoas, de ideias, de solidariedades. Manuela Lowenthal Ferreira e Annie Rangel Kopanakis contribuem quando afirmam que é importante
“Compreender o papel, a função e forma social da arte de rua em suas expressões, como o grafite e a pichação, para estudar a dinâmica das cidades e os fenômenos contemporâneos. Assim, a arte de rua, em sua comunicabilidade e na sua renovação do saber e da sensibilidade, consiste, pois, no surgimento de outro tipo de vínculo da cultura com o território” (18).
Assim, entendemos que a música de rua, quando espontânea, ocupa espaços públicos e impulsiona para a confecção e/ou cristalização de sentimentos topofílicos, de fortalecimento identitário, de ressignificação do território e do lugar. É por isso mesmo potente em crítica e ação política. Nasce dos de baixo e se espalha horizontalmente. É germe do acontecer solidário, da construção coletiva a partir da troca entre iguais. Não responde aos nexos do poder verticalizado, pois não se percebe nele, senão como um acontecer que é oprimido pelo poder das tiranias. O poder, na lógica do território usado é de todos e para todos. Onde todos têm tudo. Esse posicionamento contraria a imposição do desejo (via psicosfera) pelo Estado, ou mesmo pelo mercado transfigurado em política pública.
Quando o popular se organiza organicamente, rechaça o desejo repressor do Estado, ou a lógica sedutora do mercado. É nesse ponto que o território usado aparece como produtor de suas necessidades, como quem demanda e constrói espaços que lhe sejam significativos. Arte, música e espaço público à serviço do humanismo. Assim, verificamos que há um fenômeno social, fundeado na experiência musical que une ritmo e palavra, que pode representar um dos indícios do acontecer do período popular da história (19), a voz do território usado, em ação política: as batalhas de rima.
Batalhas de Rima, uma atuação musical emancipadora: o caso do Largo da Batata
As Batalhas de Rimas podem ser consideradas como um fenômeno social e musical ligado ao movimento hip-hop, este último entendido pelo filósofo José Prado como
“Uma máquina de guerra, no sentido de Deleuze, ou seja um campo em que milhares de singularidades constroem resistências (batalhas simbólicas) aos programas dominantes enunciados pelas máquinas comunicacionais dos dispositivos midiáticos. As periferias do hip-hop não são as mesmas ditas no singular dos textos midiáticos hegemônicos. Contra o monolinguismo, (a periferia, o pobre, o negro, o favelado) das mídias hegemônicas, os hip-hoppers das periferias brasileiras têm construído outras comunicações” (20).
Entendemos no hip-hop uma ação política, pois há décadas o movimento atua como contra-racionalidade hegemônica, a partir da 1. produção de música independente; 2. como rede de apoio ligado a movimentos sociais de população segregada; e 3. na produção de eventos onde a música, a palavra, as artes visuais e a cultura figuram como ponto central do exercício da cidadania, ou seja, atua nos lugares em que o Estado negligencia suas responsabilidades.
O hip-hop está na periferia econômica, nos bairros sem saneamento básico, carentes de planejamento e habitação dignos, atuando na conscientização sobre a precariedade e/ou ausência de serviços e políticas públicas. É insurgência periférica que se utiliza da comunicação e da arte para agir politicamente. O movimento hip-hop responde também a uma estrutura interna, que segundo Núbia Oliveira dos Santos (21), está fundeada em cinco pilares identificadores: o grafite, o MC, o DJ, o b-boy e o rap.
O Grafite, é uma arte plástica que se utiliza de desenhos característicos, expostos em locais públicos, fachadas de prédios, muros da cidade ou outros suportes físicos. Possui mensagens visuais alinhadas aos valores da cultura hip-hop, à denúncia da precariedade da vida nas periferias socioeconômicas, ou mesmo a expressão artística subjetiva de seus membros. O grafite é em sua essência uma forma de expressão e também uma maneira de agir politicamente sobre o território, no sentido defendido por Hannah Arendt para quem “a política surge no entre-os-homens; portanto totalmente fora dos homens” de modo que “organiza, de antemão, as diversidades absolutas de acordo com uma igualdade relativa e em contrapartida às diferenças relativas” (22).
O MC é o mestre de cerimônia, um articulador/comunicador que expressa experiências da vivência nas periferias sociais a partir de rimas que são apresentadas ao público que o acompanha em suas apresentações.
O DJ, sigla para o termo de língua inglesa disc-jockey, figura como operador de áudio, utilizando-se de discos de vinil ou versões digitais de músicas de variados estilos para articular ritmos, melodias e harmonias. A principal função dos DJs, além de expressarem-se por meio de suas produções, é permitir o aproveitamento de suas criações como ferramenta para a dança e o canto realizados respectivamente por outros dois pilares cultura hip-hop: o b-boy e o rapper.
O b-boy é o indivíduo que executa a dança característica do hip-hop, chamada de Brake Dance. Nessa manifestação corporal os movimentos são executados em consonância com o ritmo das bases criadas pelos DJs. É uma forma de comunicação quase sempre baseada na demonstração de força e domínio dos movimentos do corpo.
Por fim, o rapper, indivíduo que exercita a comunicação verbal de suas ideias junto ao ritmo proposto pelo DJ. É ele que faz o rap, da língua inglesa Rhythm and Poetry (ritmo e poesia), ou seja, canta suas ideias de maneira rítmica.
Nesse sentido, a atuação do hip-hop como fenômeno social, revela o desejo e a visão de mundo de indivíduos que utilizam-se da imagem, da palavra, do corpo e do ritmo para expressar-se artisticamente. Antonio Candido nos brinda com o seguinte:
“Quando o homem imprime ritmo à sua palavra, para obter efeito estético, está criando um elemento que liga esta palavra ao mundo natural e social; está criando para esta palavra uma eficácia equivalente à eficácia que o ritmo pode trazer ao gesto humano produtivo. Ritmo é, portanto, elemento essencial à expressão estética nas artes da palavra, sobretudo quando se trata de versos” (23).
O rap seria então considerado por nós como o vetor rítmico e estético para, a partir da palavra, imprimir no mundo a percepção do meio social em que está presente. Em outras palavras, o hip-hop, e sobretudo o rap, são formas de ação política sobre o território.
No Largo da Batata, na capital paulista, ocorre desde fevereiro de 2016 um fenômeno de ocupação de espaço público baseado em uma prática do hip-hop chamada de Batalha de Rimas. Segundo Paul Edward (24) o fenômeno das batalhas consiste basicamente em uma disputa entre dois ou mais rappers que competem a partir da palavra, do improviso e da dissuasão do outro por meio de argumentos que sejam publicamente reconhecidos como mais eficazes. Para isso, uma plateia ao vivo é fundamental, uma vez que os competidores são avaliados por ela. O julgamento, que ocorre por meio de manifestações motoras e sonoras, decide qual dos rappers sagra-se vencedor da disputa. Estes vão se enfrentando e avançando até a batalha final, onde o grande campeão é conhecido. Uma curiosidade, que denota o papel pedagógico e educativo das batalhas de rima, é que recitar versos grafados, decorados ou pertencentes à obras já conhecidas do público, são considerados uma desonra, o que obriga os participantes a construir pensamentos no ato das batalhas, ou seja a dialética é utilizada como ferramenta de aprendizagem coletiva.
Devido a sua plasticidade, as batalhas de rimas podem ocorrer em qualquer lugar em que haja interesse do convívio social, como praças, esquinas, escolas, largos, palcos de show e até mesmo em plataformas digitais. A que ocorre no Largo da Batata se chama “Largo da Batalha” e foi idealizado com o objetivo de propagar a cultura hip-hop para a região de Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo.
Na plataforma virtual Facebook (25) existe uma página (grupo público) do Largo da Batalha onde consta na aba “sobre” uma pequena descrição do grupo, links eletrônicos para acesso aos materiais de registro das batalhas, e um compilado com quatro regras de convívio na plataforma virtual, sendo 1. “Largo da Batalha não atura preconceito, tem que ter respeito”, onde os frequentadores são advertidos quanto a intolerância ao racismo, a homofobia e a xenofobia; 2. “Tem que ter coragem, não pode jogar a toalha!”, em que se lê que os trabalhos dos artistas que utilizam a página podem ser divulgados; 3. “Calmô…”; onde há a advertência de que as discussões que culminem em violência serão passíveis de banimento; e 4. “#Largou”, em que se diz: “na praça, em casa, onde for #largou”.
Em nossas visitas ao Largo da Batalha foi possível observar a maneira como os encontros são realizados. Iniciados por volta das 19h, cobrem um perímetro de cerca de 500m². Nele, ocorre um movimento coletivo em que participantes, organizadores e público se ajudam na viabilização da ocupação do espaço. As horizontalidades, já historicamente construídas pelo coletivo, se materializam e podem ser visualizadas, de modo que chama a atenção a rapidez e eficiência com que o grupo se instala na área pública do Largo da Batata construindo uma nova lógica de organização e uso do território.
Desde os acessos pela avenida Faria Lima, até o Largo de Pinheiros, onde fica a Capela Nossa Senhora do Monte Serra, pessoas se ajudam no transporte e posicionamento dos equipamentos que serão utilizados para as batalhas. Durante a montagem, vendedores ambulantes desenham um perímetro ao redor dos equipamentos de som.
A presença dos vendedores ambulantes demonstra que a ação política de ocupação cultural do espaço movimenta também uma economia local, garantindo renda para trabalhadores informais que são atraídos para o Largo da Batata nos dias em que ocorrem as batalhas de rimas. Esse evento tem correlação com que a professora Ana Clara Torres Ribeiro chama de totalidade social. Para ela
“Há uma conexão, que é ontológica, entre a problemática do espaço e a atividade, a ação, a forma dinâmica do ser. Eu diria que o ser é a totalidade social. Sendo o ser a totalidade social, este ser não é algo estático, não é apenas técnica, é atividade, tem seus núcleos mais ou menos dinâmicos, seus determinantes ativos, logo o ser não é algo harmônico, mas dissonante” (26).
Assim, o ser (sujeito coletivo) representa a totalidade social do espaço. Ele é, em si, a sociedade unida pela diferença. Decorre desse encontro ontológico o território praticado, ou território usado, como diria o professor Milton Santos. É no território que se dá a valorização das práticas sociais a partir da cultura e da psicosfera. É o que salienta a professora Ana Clara ao comentar a teoria do professor Milton Santos, com quem praticou franco diálogo proficiente sobre as questões afetas ao espaço. Ela diz que
“Existe uma face da problemática do espaço, da ontologia do espaço, que é citada, trabalhada teórica e conceitualmente na obra de Milton Santos, valorizando a dimensão da ação: o sistema de ação, a problemática do espaço praticado, ou melhor dizendo, o território praticado, e a valorização das práticas sociais juntamente com toda uma formação que penetra nos efeitos culturais do meio técnico-científico-informacional e, nesta angulação, teremos exatamente o conceito ou a categoria de psicoesfera” (27).
Assim, compreendemos que o espaço é o que a professora Ana Clara classifica como algo prático-inerte, consequência da totalidade. Compreende a ação (técnico) do sujeito e suas problemáticas (psicosfera). Para nós, o uso do espaço público que subverte a função para a qual ele foi pensado e executado traduz uma consciência da autonomia que é por si só, crítica. Como aponta Ana Clara “o que nós precisamos, efetivamente, é controlar por nós mesmos, e não pelos desígnios dos outros, a evolução da reflexão de uma maneira livre e criativa, mas altamente perceptiva” (28).
Quanto maior nossa capacidade de perceber, mais totalidade o espaço compreende e mais ação social libertária e autônoma ocorre no território. É nesses espaços, construídos pela totalidade, que se abre espaço para o projeto, conceito trabalhado pelo professor Milton Santos que aponta o território usado como canal para a ação política e resistência às verticalidades hegemônicas que se perfazem na forma do território pensado como fôrma. Assim, tanto na ocupação técnica e psíquica do território, quanto na recomposição imagética da cidade é preciso propor!
Em pouco tempo as batalhas são anunciadas e o público se reúne preenchendo o perímetro delimitado pelos trabalhadores ambulantes que auxiliam na organização do espaço ocupado pelo movimento cultural.
Enfrentando-se lastreados por ritmos musicais nacionais e internacionais, o Largo da Batalha configura-se como espaço de conexão entre as categorias do lugar e do global. Lugar entendido aqui sob a perspectiva de alma do território usado, como se pode perceber nas palavras da Professora Maria Adélia de Souza:
“Partindo da sua interessante reflexão que neste período histórico que ele denominou de técnico, científico e informacional, mundo e lugar se constituem num par indissociável, tornando, no entanto, o lugar como a categoria real, concreta. O lugar é também, segundo inspiração sartreana, o espaço da existência e da coexistência. O lugar é o palpável, que recebe os impactos do mundo. O lugar é controlado remotamente pelo mundo. No lugar, portanto, reside a única possibilidade de resistência aos processos perversos do mundo, dada a possibilidade real e efetiva da comunicação, logo da troca de informação, logo da construção política” (29).
Desse modo, o território usado lança-se como possível mediação entre o mundo e a sociedade que interfere na totalidade processual da história e da vida coletiva. É, por sua natureza, espaço de construção e nela quanto maior for o controle remoto do mundo sobre o lugar, mais solitário o lugar se tornará, no entanto quanto maior a ação em rede, a denúncia da contradição, os movimentos contrarracionais, maior será a ação política. Assim, o território usado é a resistência do lugar ao mundo, numa postura intitulada pelo professor Milton Santos de grito do território. E esse grito é também uma auto valorização. Nas palavras da professora Ana Clara Torres Ribeiro, alcançar essa “angulação que advém da valorização da cultura, da valorização da política, da valorização da problemática do sujeito” (30) é o que garante essa ação.
Nessa perspectiva, os rappers apresentam ideias ligadas a contracultura e a partir de seu grito, estabelecem sublevação e contra-racionalidade, convergem lugar e mundo e competem pela atenção e aprovação de seus pares. É nas batalhas que se dá a essência do território, que ocorre o acontecer solidário do professor Milton Santos. Em outras palavras: é nas batalhas de rima, apropriado de si, que o território fala.
Entendemos assim que esse fenômeno corporifica o sujeito em ação política. É o corpo exercendo cidadania e ação política. É a música de rua que resulta em emancipação social, em ocupação e uso do território.
Considerações finais
Quando entendido como objeto de análise social, o território é definido principalmente pelo seu uso e não apenas por suas configurações espaciais e burocráticas. Entendê-lo é a base necessária para os projetos, a composição da visão de mundo e a possibilidade de concepção de futuro (31).
Assim, percebemos que é no grito do território, materializado pela música de rua, que o ato revolucionário da resistência às forças hegemônicas se dá. É nessa ação coletiva e horizontal que reside a força da esperança de Sartre (32). É na ação realizada por meio das batalhas de rimas no Largo da Batata que se caracteriza a ação política que dá voz às periferias apropriadas da centralidade de Pinheiros.
A partir dessa conduta, de permanência pelo uso, visando resistência territorial, acredita-se que a postura do posicionamento pode culminar numa mudança estrutural nas forças opressoras. É o que Antonio Gramsci ensina ao afirmar que “sob um determinado invólucro político, necessariamente se modificam as relações sociais fundamentais e novas forças políticas efetivas surgem e se desenvolvem, as quais influenciam indiretamente, com pressão lenta mais incoercível, as forças oficiais” (33).
São essas mudanças que permitem vislumbrar o projeto, o projeto socialmente necessário. E, antes de tudo reconhecer a possibilidade do projeto é necessário, afinal como nos fala o professor Milton Santos “o mundo é formado não apenas pelo que já existe, mas pelo que pode efetivamente existir” (34), principalmente caso o que se queira seja construir uma condição cidadã, solidária, e sobretudo, restauradora da dignidade humana, da possibilidade, da autoria popular da história, do sujeito corporificado. Uma condição que possui no território usado sua centralidade e na arte popular seu contorno estético.
notas
1
FREDERICO, Celso. Marx, Lukács: a arte na perspectiva ontológica. Natal, EDUFRN, 2005, p. 94.
2
VAN GOGH, Vincent. Cartas a Théo. Porto Alegre, L&PM, 2008, p. 39.
3
BUORO, Anamelia Bueno. O olhar em construção: uma experiência de ensino e aprendizagem da arte na escola. 4º edição. São Paulo, Cortez, 2000, p. 25.
4
PEDROSA, Mário. Arquitetura: ensaios críticos. São Paulo, Cosac Naify, 2015, p. 176.
5
FISCHER, Ernest. A necessidade da arte. 9ª edição. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1987, p. 231.
6
WISNIK, José Miguel. O som e o sentido. São Paulo, Companhia das Letras, 1989, p. 28.
7
SARTRE. Jean-Paul. Esboço para uma teoria das emoções. Porto Alegre, L&PM, 2013, p. 62.
8
MOSÉ, Viviane. Nietzsche hoje. Petrópolis, Vozes, 2018, p. 97.
9
SIMAS, Luiz Antonio. O Corpo encantado das ruas. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2020, p. 32.
10
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Referencial curricular nacional para a educação infantil. Ministério da Educação. Brasília, MEC/SEF, 1998, p. 45.
11
BARRETO, Sidirley de Jesus; CHIARELLI, Karina Meneghetti. A Importância da musicalização na educação infantil e no ensino fundamental: a música como meio de desenvolver a inteligência e a integração do ser. Blumenau, Acadêmica, 2004, p. 1.
12
MARX, Karl. Contribuição à crítica do direito de Hegel: introdução. São Paulo, Expressão Popular, 2010, p. 44.
13
CANDIDO, Antônio. O estudo analítico do poema. São Paulo, Associação Editorial Humanitas, 2006, p. 69.
14
MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos de 1844. In FERNANDES, Florestan (org.). Marx e Engels: História. São Paulo, Ática, 1989, p. 177.
15
Idem, ibidem, p. 178.
16
NIETZSCHE, Friedrich. Fragmentos póstumos — Vol. VII: 1887-1889. São Paulo, Forense Universitária; 2012, p. 186.
17
CANCLINI, Néstor Garcia. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo, Edusp, 1997, p. 301.
18
FERREIRA, Manuela Lowenthal. KOPANAKIS, Annie Rangel. A cidade e a arte: um espaço de manifestação. Revista Tempo da Ciência, v. 22, n. 44, Toledo, Unioeste, 2005, p. 82.
19
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único a consciência universal. 10ª edição. Rio de Janeiro, Record, 2003, p. 173.
20
PRADO, José Luiz Adair. Hip-hop ou a tensão da voz buscada. In MOASSAB, Andréia. Brasil periferia(s): a comunicação insurgente do hip-hop. São Paulo, Editora PUC SP, 2011, p. 9.
21
SANTOS, Nubia Oliveira dos. Hip-hop como manifestação cultural: protagonismo juvenil em Rio Verde Goiás. Dissertação de mestrado. Goiânia, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 2012, p. 8.
22
ARENDT, Hannah. O que é política? Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2003, p. 23-24.
23
CANDIDO, Antônio. O estudo analítico do poema. São Paulo, Associação Editorial Humanitas, 2006, p. 71-72.
24
EDWARDS, Paul. How to rap: the art and science of the hip-hop MC. Chicago, Chicago Reviews Press, 2009.
25
Facebook <https://bit.ly/4cx9DzT>.
26
RIBEIRO, Ana Clara Torres. Teorias da ação social. Rio de Janeiro, Letra Capital, 2014, p. 32.
27
Idem, ibidem, p. 31-32.
28
Idem, ibidem, p. 35.
29
SOUZA. Maria Adélia de. Prefácio. O Retorno do território. Observatorio Social de América Latina, año 6, n. 16, Buenos Aires, Clacso, jun. 2005, p. 235.
30
RIBEIRO. Ana Clara Torres. Teorias da ação social. Rio de Janeiro, Letra Capital, 2014, p. 40.
31
SANTOS, Milton. O professor como intelectual na sociedade contemporânea. Conferência de Abertura do IX Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, Águas de Lindóia, 1998.
32
SARTRE, Jean-Paul. Prefácio. In FANON, Frantz. Os condenados da Terra. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1968, s/ p.
33
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Volume 5: O risorgimento. Notas sobre a história da Itália. Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 2002, p. 56.
34
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único a consciência universal. 10ª edição. Rio de Janeiro, Record, 2003, p. 160.
sobre os autores
Samuel Henrique Damas Marinelo é doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (2022), bolsista Capes integrante do Laboratório de Análise e Desenvolvimento Urbano e Regional da PUC-Campinas.
Manoel Lemes da Silva Neto, arquiteto e urbanista (1980), mestre (1990) e doutor (1993) pela FAU USP; especialista em Gestão do Desenvolvimento Regional (1993) pelo ILPES, professor titular do Posurb ARQ e da FAU PUC-Campinas. Autor de “A Questão regional hoje: reflexões a partir do caso paulista” (In SOUZA, Maria Adélia de (org.). Território brasileiro: usos e abusos. 2ª edição. Arapiraca, Eduneal, 2017, p. 361-384.

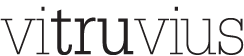

![Quando você (r)existe: Largo da Batalh [Acervo dos autores, 2022]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/713ee6991186_marinelo_batalha01.jpg)
![Quando você (r)existe: Largo da Batalh [Acervo dos autores, 2022]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/713ee6991186_marinelo_batalha01.jpg)